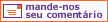RÁ-TIM-BUM
"?Ilha Rá-Tim-Bum? é anunciado para março", copyright O Estado de S. Paulo, 9/07/01
"Finalmente foi oficializado o seriado infantil Ilha Rá-Tim-Bum, projeto que a TV Cultura anunciou em 1998, mas que não se concretizava por falta de recursos.O presidente da Fundação Padre Anchieta, Jorge da Cunha Lima, e o presidente da Fundação Bradesco, Lázaro de Mello Brandão, assinaram na quarta-feira o contrato de parceria de um ano para a produção de 52 capítulos, previstos para irem ao ar diariamente, a partir de março. A apresentação do projeto mereceu presença do ministro da Educação, Paulo Renato Souza, nos estúdios da Cultura, anteontem.
Todas as maquetes estão prontas e apenas um cenário já está montado. O investimento estimado para o Ilha Rá-Tim-Bum é de US$ 4,5 milhões e a Fundação Bradesco já disponibilizou uma parcela dessa quantia. Ainda não estão definidos o elenco – são 22 personagens – e o diretor-geral, mas já fazem parte do projeto os diretores Maísa Zakzuk e Fernando Gomes.
O enredo inicia-se quando cinco jovens chegam por acidente a uma ilha desconhecida e lá ficam presos, tendo de enfrentar uma série de aventuras, que, metaforicamente, se relacionam com o caminho percorrido pela humanidade desde a pré-história. Flávio de Souza assina a criação e o roteiro da história.
A nova produção não excluirá o Castelo Rá-Tim-Bum da programação. ?Rá-Tim-Bum é uma marca comprometida com a criança, a educação e o entretenimento. A diferença é que o Ilha Rá-Tim-Bum terá um conteúdo de dramaturgia mais acentuado e o Castelo era a pura pedagogia?, diz Jorge da Cunha Lima. Na apresentação do cenário, anteontem, o presidente da Fundação Padre Anchieta explicou ainda que o seriado também terá a preocupação de ?reforçar os valores simples da existência humana, como, por exemplo, a amizade?."
OS NORMAIS
"Acima da média normal", copyright Jornal do
Brasil, 9/07/01
"Na última sexta-feira, Rui descobriu que a noiva Vani considerava o pinto dele normal, ?tipo acima da média?. Ele descobriu também que ela fofocou sobre suas (as dele, do pinto) proporções com a melhor amiga. Rui ficou possesso. Reação normal de homem. Quis porque quis que Vani corrigisse a demarcação de seus limites: ?médio não, acima da média. Enorme?. Ela achou curioso, engraçado até. Reação normal de mulher. No sofá da sala, quase dois milhões de pessoas assistiram, pela TV Globo, ao impasse sobre o diferente peso que homem e mulher dão para as medidas. Coisa de Os normais, programa que estreou em 1? de junho fazendo comédia com situações cotidianas de um casal e, pela média de 24 pontos que vem alcançado no ibope, virou hábito. E deve também virar filme. O projeto ainda é projeto, mas quer deixar de ser até o fim do ano, data pensada para o início das filmagens de Os normais, o longa-metragem.
A audiência não chega a ser enorme – um capítulo de novelas das oito alcança 50 pontos -, mas está acima da média que a emissora registrava no horário (das 23h10 às 23h45) e deixa seis pontos atrás os filmes enlatados do SBT, que davam suadouro na Globo até há pouco tempo. ?Estamos ganhando dos americanos?, faz piada a atriz Fernanda Torres, a Vani da história. Casca de banana em potencial, o avançado da noite tem sido ingrediente na fórmula do sucesso do programa. Às 23h10, mesmo na Globo, pinto é chamado de pinto. Logo no começo, cabia até comer – no sentido antropofágico do verbo – no texto.
Verbos censurados – Cabia, mas ficava um pouco apertado na estrutura-família da emissora. No terceiro programa, que tinha como tema os problemas de Rui com sua (falta de) potência, comer – com a ajuda da dublagem – foi traduzido para dar e pegar. Para o diretor José Alvarenga, não comprometeu. ?O programa é sacana, não é de sacanagem. As palavras podem ter sido trocadas, mas a intenção ficou clara?, garante.
Tão clara que, no começo, ninguém levou muita fé que o programa seria aprovado nas reuniões de comitê da Globo. Muita gente resistiu. Tanto que o programa – esticado, no rastro dos bons números de audiência, até o fim do ano -, demorou quatro meses entre concepção e estréia. A decisão de bancar o projeto partiu da diretora-geral Marluce Dias da Silva. Oh, quanta ousadia!? Neste caso, nem tanto.
Os normais é programa de grife. Ou grifes, para concordar com o selo do núcleo de Guel Arraes, o texto de Fernanda Young e Alexandre Machado (ex-Vida ao vivo show, Comédia da vida privada, Muvuca), o carisma de Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães, a badalação dos convidados (Murilo Benício, Drica Moraes, Debora Bloch, Giulia Gam), a direção de José Alvarenga (ex-Mulher, A justiceira) e os sobrenomes da equipe (a continuísta é Estela Valadão, filha de Jece Valadão, a assistente de direção é Paloma Rocha, filha de Glauber Rocha, e o diretor de fotografia é Tuca de Moraes, neto de Vinicius de Moraes).
Teste drive – Marluce também se escorou no resultado do group discussion, nome pomposo para telespectadores normais, de 13 a 60 anos, que servem de cobaia e vêem e discutem um programa antes da estréia. E os normais gostaram de Os normais. Não houve restrições para o swing que levou dois casais para a banheira de um motel no primeiro capítulo (Todos são normais), nem para o tarado que massageia o traseiro de Fernanda Torres no segundo episódio, Normas do clube, muito menos para a prostituta que ajudou Rui quando ele achou que estava impotente em Trair é normal. O custo da produção também ajudou a dobrar o comitê. Um episódio de Os normais gasta, em média, cerca de R$ 140 mil, algo em torno de 30% do valor de outras séries e programas semanais já produzidos pela Globo.
Alguns deram certo como Sai de baixo e A grande família – para citar exemplos de ontem e de hoje. Mas muitos não duraram muito. Mesmo quando exploraram o filão do dito humor moderno. Foi o caso de Vida ao vivo show (com Luiz Fernando e Pedro Cardoso) e do Garotas do programa. No caminho das sitcom (comédias de situação), as incursões da TV brasileira teve derrapadas ainda mais feias. Basta lembrar a malsucedida experiência da Band com A guerra dos Pintos e Santo de casa, em 1999. Cópias das americanas Married… with children e Whos the boss, mostraram-se um arremedo delas, aportuguesando piadas contextualmente americanas."
***
"Fernada Young escreve o roteiro junto com o marido, Alexandre Machado", copyright Jornal do Brasil, 9/07/01
"Mas Os normais tem muito de sitcom americana – segundo Alexandre Machado, a estrutura é a mesma. E está dando certo. A diferença é simples, básica, normalíssima até. Em Os normais, acertou-se a mão na adaptação da estrutura das sitcom (agilidade e ritmo). Misturou-se a isto alguns elementos de humor brasileiro (?anarquia, calor e erotismo?, segundo Fernanda Young) e o velho e bom filão de explorar neuras de um casal – lá fora se faz isto há tempos, o interminável prazo de validade das reprises de Mad about you e de qualquer filme de Woody Allen estão aí para mostrar.
?Temos uma intenção ideológica grande: fazer as pessoas rirem delas mesmas. Um riso autocrítico?, explica Fernanda Young. ?Um riso libertador?, explica mais ainda Alexandre. ?Quando assisto aos filmes de Woody Allen, vejo que Os normais começou ali. A diferença é que os personagens dele são inseguros. No programa, não há análise freudiana das neuras, talvez por isto alcance todas as classes sociais?, analisa.
Terapia de grupo – Mal comparando, pela teoria de Alexandre, Os normais seria uma espécie de terapia de grupo. Mais popular. ?Buscamos o formato do humor-verdade, sem estereótipos. A preferência do telespectador pelas pegadinhas e pelos testes de fidelidade estão aí para mostrar?, acrescenta ele. O risco está em estereotipar a normalidade. E, às vezes, isto acontece. Ser normal é a mulher que quer um homem sensível para ir ao cinema no domingo. Ser normal é o homem que quer ver futebol no domingo.
Não chega a provocar mudanças no clima do programa. Aquele tal clima brasileiro/sacana. ?Ser normal é pensar em sexo mais de 100 vezes ao dia, com mais de 1000 posições e praticar apenas duas vezes por semana na mesma posição?, escreveu o telespectador Davi, de Várzea Paulista, no site da Globo.
Fernanda Torres já percebeu o alcance do programa. Na rua, do guardador de carro à madame, ela é cumprimentada com um ?E aí, normal??. Não é Fernanda, nem Vani. ?Acho que a experiência do Alexandre em fazer comerciais mostrou o caminho para atingir classes de A a Z. A sintonia entre ele e o Luiz Fernando funciona muito e a direção do Alvarenga ameniza o lado mais chulo. Com isto, o programa consegue ser baixo, sem ser vulgar?, teoriza Fernanda.
Cara de cinema – A estética também faz diferença. Os normais é TV com tratamento de cinema, profundidade nas cenas e direção focada nos personagens. A sensação é de película. E de improviso. De que Luiz Fernando e Fernanda se encontram um pouquinho antes da gravação, batem um papo e tudo acontece. Normalmente. Engano. ?Para se chegar a esta sensação de improviso dá um trabalho danado. O timing é muito bem pensado. O programa não tem nenhuma frase engraçada. A gente usa o corte como piada. Um personagem diz que não vai fazer uma determinada coisa de jeito nenhum e na outra cena já está fazendo?, explica Alexandre.
Fernanda Torres já se viu fazendo coisas absurdas. Em uma cena, por exemplo, teve que subir na cama, sambar e, ao mesmo tempo que batia com uma colher de pau em um balde, comemorava: ?Vou tran-sar!?. O caboman, que passava na hora, ficou olhando, perplexo. ?A gente fica feliz quando no texto não tem uma hemorróida ou um catarro?, brinca ela.
Por trás das câmeras, a comédia é levada a sério. Cada cena tem começo, meio e fim para prender o telespectador que passa e que fica. Só o fim é mais leve, livre e solto. A última cena é sempre improvisada por Luiz Fernando e Fernanda. No roteiro, o diálogo só começa. ?A gente vai batendo a bola durante a gravação, combinando o assunto do fim?, conta a atriz. Pode ter a ver com o programa ou não. Segundo o diretor José Alvarenga, a idéia é terminar em alto-astral. Na última sexta, na improvisação, Vani explica para Rui que o tamanho do pinto dele é médio porque ele é alto e que, em uma pessoa mais baixa, ele (o pinto) seria enorme. Tudo terminou bem. Bem normal."
SUICÍDIO NA TV
"A morte nossa de cada dia", copyright Jornal do Brasil,
5/07/01
"A morte é um néctar que se bebe quente. Ou on the rocks. Depende da ocasião. A morte é um sucesso, desde que trágica, sangüínea, cortante e saborosa. A televisão, o cinema, as manchetes dos jornais, todos adoram a morte – e pedem doses cada vez mais intensas. A morte é o supremo prazer da mídia.
Eu não tinha me dado conta de como isso avançou até que vi, na semana passada, a entrevista de Daniel Filho ao Roda viva. Ele falou de muita coisa esperada, é verdade, enveredou por assuntos nada surpreendentes para alguém que, como ele, tem uma biografia que se confunde com a própria história da televisão brasileira. Mas, numa passagem, Daniel me paralisou. Contou uma história que me deixou eletrocutado. De repente, sem mais nem menos, recordou um episódio que havia me marcado feito uma amputação. Eu achava que ninguém mais se lembraria daquilo, mas Daniel Filho se lembrou. Sem dar maior importância, ele narrou o momento em que o Jornal Nacional decidiu não exibir um suicídio. O suicídio: Daniel se referiu ao disparo de revólver com que um homem, uma autoridade americana, deu cabo da própria vida.
Ele não se lembrava direito da data, mas eu me lembro. Foi em 1987. Segundo Daniel, aquele tiro não foi ao ar porque os responsáveis pelo telejornal acharam que seria demais, seria um exagero, seria de mau gosto. Fora isso, avaliaram que mostrar o instante do tiro não era necessário para dar a informação ao público. E não era mesmo. Qual era a informação? A de que um quadro de governo nos Estados Unidos havia se matado na frente das câmeras em protesto contra denúncias de corrupção.
Pois eu sei o nome da tal autoridade. Tenho ainda agora nos meus olhos a imagem daquela fração de segundo em que a cena do telejornal foi congelada. O suicida já movia os músculos da mão para puxar o gatilho. Morreria em seguida, com um disparo no céu da boca. Eu não precisei ver o tiro para saber. Foi no dia 22 de janeiro de 1987. O nome do homem era Budd Dwyer. Tinha 47 anos e era secretário da Fazenda da Pensilvânia. Nunca pude me esquecer do modo como ele retirou suavemente a Magnum 357 de um envelope de papel pardo. Foi algo inesperado. Valendo-se do efeito surpresa, ele apontou a arma contra as câmeras, mudando o alvo de um lado para outro, como se quisesse varrer os intrusos. Achei que Dwyer ameaçava atirar contra qualquer um que tentasse se aproximar. Rapidamente, enfiou o cano na boca e … Sob os holofotes da TV.
Dwyer fora acusado de receber suborno. Indignado, convocara uma coletiva para alegar sua inocência. Marcara a coletiva para a véspera do dia em que deveria comparecer ao tribunal para ouvir a condenação. Uma vez tendo a imprensa diante de si, suicidou-se. E o tiro não foi ao ar, ao menos no Brasil. Eu nunca soube bem por que não foi ao ar – se por algum respeito ao público, se por elegância; o fato é que os editores do telejornal julgaram por bem deixar que o homem morresse fora de cena.
Eu também nunca soube se Dwyer era de fato inocente ou culpado. Também não sei se a imprensa acertou ou errou naquela cobertura. Nem me interessei por isso. Aqueles são tempos distantes. O que ficou para mim foi somente a sensação de que, naqueles tempos, bastava o congelamento de uma imagem para me chocar, para me traumatizar. Hoje, porém, o mesmo procedimento me frustaria. A mim e ao público. Nada é mais banal do que a morte. A morte para ser morte tem de ser, hoje, visceral e explícita. O próprio Daniel Filho registrou isso em sua entrevista no Roda viva. Contou que viu na TV, dia desses, um pai e um filho, criança de 8, 10 anos, sendo executados numa guerra. Sei lá que guerra foi essa. Não importa. Importa a constatação de que a morte ao vivo se tornou um imperativo na mídia.
Depois de 1987, eu também já vi muita gente morrer na televisão. Muita gente. No dia 5 de julho de 1993, no Aqui agora, o extinto bestialógico do SBT, vi a recepcionista Daniele Alves Lopes, de 16 anos, atirar-se do sétimo andar de um prédio no centro de São Paulo. Em 1997, vi o pedreiro Diego José, de 23 anos, ser baleado por um policial, a queima-roupa, no acostamento da rodovia D. Pedro I. Para se proteger do cerco da polícia, o pedreiro, que vinha de seqüestrar um ônibus, transformara uma criança de 2 anos em escudo. Ameaçava-a com uma faca no pescoço. Era noite. A câmera parecia bêbada, trôpega, chacoalhando ao sabor dos holofotes trepidantes. Habilidoso, um policial chegou bem perto e liqüidou o criminoso. Eu me lembro. Assim como me lembro de ter visto a professora Geísa Firmo Gonçalves, de 22 anos, ser baleada no desfecho do seqüestro de um ônibus circular no Rio de Janeiro, em junho do ano passado.
É verdade que, antes, os pobres morriam mais que os ricos na TV. Os pobres, como Geísa, Diego e Daniele, morriam sem cerimônia. Já os ricos, como Budd Dwyer, costumavam ser poupados – senão pelas balas, pelas câmeras. Hoje, porém, acho que nem os ricos se safam. Todos são iguais perante o imperativo da morte sensacional. Nivelamento tumular. Fui ver a exposição que a Globo montou na Oca, no Ibirapuera, em São Paulo, a pretexto dos 50 anos da TV. Ali, revi meu velho conhecido Budd Dwyer. Outra vez, em replay, ele estava morrendo, só que dessa vez até o fim. Fiquei até confuso quando vi o instante do tiro sendo exibido. Titubeei: será que minha memória me traiu? Será que em 1987 o disparo foi ao ar e eu é que censurei a imagem na lembrança? Mas não. Em 1987, de fato, o disparo não foi ao ar. Eu só tive a confirmação disso na entrevista de Daniel Filho para o Roda viva. Na exposição apoteótica da Globo, o que me foi recusado em 1987 agora me é autorizado, sem mais, no meio de outras milhares de imagens simultâneas. O secretário americano está ali, diluído, matando-se reiteradamente, diante do público pagante, do público passante. Sem incomodar a ninguém. Aquilo que há 14 anos me chocava pela simples indicação, sem ter de ser mostrado explicitamente, hoje é um disparo a mais, uma bobagem, uma banalidade.
A morte na mídia virou um componente obrigatório. E gasto. Por isso, quanto mais em câmera lenta, melhor. Às favas com o respeito (o preconceito) de classe. Na morte mediática, Budd Dwyer é igual à Danielle. Igual a Diego. A morte sensacional nos nivela e nos sacia. Até a hora da nossa própria morte, amém. (Eugênio Bucci é colunista do JB e secretário editorial da Editora Abril)"quot;
REALITY SHOWS
"A França após a TV-realidade", copyright O Globo, 7/07/01
"?Há vida além do Loft ??. A pergunta, estampada em mais de um veículo de imprensa francês, refere-se às mudanças causadas na indústria cultural do país depois do ?Loft story?, o programa de TV-realidade que encerrou uma etapa na quinta-feira, após 70 dias batendo todos os recordes de popularidade e polêmica no país, com um impacto maior até mesmo do que o americano ?Survivor?, que no Brasil inspirou ?No limite?.
O programa trancou 13 jovens numa casa nos arredores de Paris, filmando-os 24 horas por dia. Aos poucos, os participantes eram eliminados pelo público e no fim sobrou um casal (a ex-stripper Loana e o estudante Christophe), que terá agora que conviver mais um mês e meio numa casa na Cóte d?Azur. Todos os participantes transformaram-se em celebridades instantâneas.
As razões de tamanho impacto são econômicas e de mudanças na própria TV francesa. O pequeno canal M6, que exibiu o programa, lucrou mais de 250 milhões de francos (R$ 78,5 milhões) em dois meses e ultrapassou pela primeira vez a poderosa TF1. Não menos importante foi o impacto sobre os intelectuais franceses. Segundo o jornal ?Libération?, todos os artigos publicados sobre o programa pesam dois quilos, em textos que vão do filósofo Jean Baudrillard ao psicanalista Daniel Sibony.
Nos dias de pico de audiência (normalmente com cenas eróticas, como Loana na piscina, ou de despedida), 20% da população francesa (10,5 milhões de pessoas) estavam ligados no programa. A média foi de 7,5 milhões de espectadores, nos últimos 70 dias, para um canal que não passava dos dois milhões antes do programa. Especula-se agora o que acontecerá com a TV após o ?Loft story?. O M6 já anunciou nova versão para 2002, mas até lá promete acompanhar a vida das estrelas que inventou. A TF1, que recusou o programa por achá-lo apelativo demais, aderiu à TV-realidade: prepara uma adaptação de ?Survivor?, ambientada numa ilha da Tailândia."