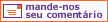JORNALISMO POLÍTICO
"Governo e opinião pública", copyright Jornal do Brasil, 18/7/01
"Durante a campanha de 1992 descobri que pouca gente se interessa pelo noticiário econômico, que eu freqüentava como personagem e com uma certa assiduidade. Parado numa esquina da Avenida Rio Branco, só me cumprimentavam aqueles que eu conhecia pelo nome. Depois da eleição, ainda na transição, e mais ainda quando assumi o governo municipal, em 1993, procurei acentuar a exposição aos holofotes, de forma a mudar a memória. Uma coisa que me intrigava, na época, era ser chamado de Marcello Alencar pela população. Essa superexposição produziu os resultados esperados: recriei o personagem político e ganhei intimidade com o imaginário da população. Mas os efeitos colaterais produziram queimaduras de terceiro grau na imagem e quase a desintegraram. Bruno Poyet, Olivier Koenig e Bernard Croisile, da Impact Memoire, laboratório de neuropsicologia e publicidade – ver Le Monde de 06.07.01 -, nos ajudam a entender: ?O choque visual – a visão de vômito, sangue, violência (me permitiria agregar a disritmia entre o personagem esperado pela opinião pública devido à função que ocupa e o outro que é exposto) – permite, por exemplo, provocar uma pegada memorial profunda, mas esta pode ter um duplo efeito, pois o cérebro tende a evacuar as imagens negativas?. As campanhas da Benetton são exemplo disso, segundo eles.
O trabalho de reconstrução da imagem não foi simples. Tanto o maluco poderia ser colado à idéia de idiota como poderia ser colado à idéia do corajoso, do que muda, um pouco na linha tardiana (de Gabriel Tarde) do louco como o iniciador de novos fluxos de opinamento. Deu certo, mas poderia não ter dado. É claro que, independentemente do que eu fazia como prefeito, a avaliação do governo naquela fase despencou para recordes negativos que, potencializados pelo noticiário, construíram uma opinião pública a respeito. A reversão, então, passou a exigir um volume extraordinariamente grande de resultados de governo. Isso foi conseguido e, assim, cristalizou-se a direção que se queria dar à imagem do louco. E, quanto mais assumia essa imagem, mais intensificava a outra, a do que tem coragem para fazer e para mudar. Confesso que, a partir desse ponto, os que usavam essa imagem – políticos e mídia – para o desgaste produziam fenômeno contrário. Procurei entender um pouco mais esses fatos.
A campanha de 1998 me ensinou que o impacto da distância informacional é inversamente proporcional à versão do personagem. Colocando a ponta seca do compasso na Rua do Ouvidor e abrindo a outra ponta, progressivamente, em direção ao estado, quanto mais se afastava mais a imagem conseguida no Rio era invertida. E os resultados mostraram isso. No Rio, capital, esse ajuste de personagem permitiu, depois da vitória de 1992, vencer as eleições de 1996, 1998 e 2000. A partir de 1998 incorporei às minhas referências o assessor de imagem de Mitterand, Jacques Seguelá. Destaquei dele a reiterada orientação ao presidente francês de que a exposição contínua do político é estratégia de alto risco e que, em geral, ela produz efeitos favoráveis durante um tempo, que pode ser longo, mas que inevitavelmente um certo dia implode, sobrando apenas caricaturas da exposição anterior. Essa exposição contínua exige uma fábrica virtual de resultados, como se o governo estivesse a cada dia no último ano. Isso pode dar certo por um tempo mais ou menos longo, mas, quando a casa desaba, o personagem é arrastado pela correnteza da fraude e da mentira.
Depois da vitória de 2000 pensei em como administrar o ciclo de governo. Não sabia se a mídia iria me tratar como um governo que entrava no quinto ano, recuperando o ponto da curva de 1996, ou se ia muito cedo romper a lua-de-mel de início de governo que, aliás, nunca tive o prazer de desfrutar. Em dois dias já tinha a resposta, através de uma citação de Mussolini, que fiz na leitura de um livro. E os estudos que li sobre ciclo de governo e imagem ajudaram muito. No início do governo trabalha-se com uma alta expectativa gerada pelo programa apresentando e pela intensidade da campanha. A construção do programa de governo se dá progressivamente, mas o jogo da notícia exige o cumprimento à vista. Em mais um extraordinário trabalho de pesquisa sobre eleições presidenciais e governo, publicado ano passado, Kathleen Jamieson nos mostra que a execução das promessas do presidente eleito atinge sempre níveis muito altos, que oscilam perto dos 70%. Mas essa não é a percepção do eleitor, já que o noticiário destaca os pontos ainda não cumpridos, o que cria aquela sensação. Num país ou numa cidade grande como Rio e São Paulo, no período inicial de governo, que passa pela fase primária de ajustes administrativos e, em seguida, quando as ações da nova administração estão apenas entrando, o clássico noticiário da cobrança das promessas, que se repete no mundo todo, termina impregnando a percepção do eleitor. Nas cidades menores, onde a proximidade permite uma visão direta, esse impacto não é tão intenso. O mesmo acontece quando se trata de governante reeleito. Os governos, nesse período, têm dois caminhos a seguir. Um deles é começar a governar fazendo-se acompanhar de uma forte campanha publicitária. Assim, esgrima-se a percepção do eleitor com duas fontes de informação. Quando essa campanha coincide com a boa vontade do noticiário, melhor ainda.
O fato é outro quando se entra em governo de países e grandes cidades, como é o nosso caso, num quadro de problemas não solucionáveis a curto prazo. Sem campanha publicitária de apoio, conhecido o ciclo das administrações e do noticiário e aplicadas sobre esse complexo as idiossincrasias do relacionamento mídia-personagem político, qualquer exposição acentuada produz, independentemente dos primeiros resultados de governo, um desgaste. Reforça a memória presente da imagem do governante que é naturalmente colada às comprovações hiper-realistas do noticiário. Mas esse momento inicial, que começa no período pós-eleição, é muito prazeroso para os políticos e evitar a superexposição é muito difícil. Os cinegrafistas e fotógrafos querem assim. Os espaços são generosos. Mas, passada a lua de mel dos 90 dias, inicia-se o ritual das cobranças. Em sucessões de governos decadentes esse quadro se agrava, pois as cobranças exigem um tempo maior de digestão. Mas a carne dos políticos é fraca. Quanto mais exposição… mais exposição. E, de repente, o mundo vem abaixo: as pesquisas constatam altas taxas de impopularidade – virtual, é claro. E, se os políticos não tiverem ?pele grossa?, terminam somatizando tudo e perdendo a iniciativa. Seus programas de governo passam a ser a ?suíte? do noticiário. Essa é a fórmula do fracasso a médio prazo e da ilusão a curto prazo.
Não tenho dúvida de que, se tivesse feito o jogo da exposição, atraído pelas câmeras e pelos espaços, teria tido a avaliação de seis meses de governo ainda mais profunda do que aquela teve um ou outro governo. Essa dessincronização entre fatos e percepção só irá se resolver – tardianamente – com resultados de governo que reconstruirão a opinião pública por contaminação, gerada pela percepção direta do eleitor quanto às realizações efetivas do governo e suas interações horizontais. Para os mais impacientes, doses crescentes de publicidade podem ajudar. Mas custam caro e o dinheiro público é escasso.
Logo após as eleições britânicas do mês passado,Tony Blair mudou a sua equipe de comunicação. Sua nova equipe disse que Blair abandonaria o estilo do marketing político americano que havia adotado – ganhar as eleições todos os dias – e entraria num estilo de nado de peito ou borboleta (mergulha/levanta) construindo a imagem do segundo governo pelos resultados, cuidando da divulgação primária e deixando para o noticiário a divulgação secundária. Boa lição, pois parte de um dos dois políticos vivos que são mestres da comunicação. O outro, claro, é Clinton, que certamente não se convenceu disso."
BOECHAT NO JB
"Boechat assume hoje edição do Informe JB", copyright Jornal do Brasil, 18/7/01
"O jornalista Ricardo Boechat, 49 anos, assume a partir de hoje o Informe JB. Com 31 anos de carreira, dois Prêmios Esso de Jornalismo, Boechat ocupará a página 6 do Jornal do Brasil, de terça a domingo.
Carioca de espírito, Boechat na realidade nasceu em Buenos Aires, devido ao ofício do pai, um professor de filosofia e línguas que trabalhava no Instituto Cultural Brasil-Argentina, país onde se casou com uma portenha.
Repórter desde os 17 anos, Boechat começou no antigo Diário de Notícias, em 1970. Era uma espécie de faz-tudo de um suplemento destinado a vestibulandos. Tornou-se jornalista sem ter concluído o equivalente hoje ao segundo grau e depois de frustradas tentativas de ser vendedor de material de escritório e de livros. Militante do Partido Comunista Brasileiro aos 14 anos, atuava entre os secundaristas do Centro Educacional de Niterói. Acabou no jornalismo, entre outras razões, por saber datilografia e ter interesse no noticiário Internacional da imprensa, então sob censura. Era época da guerra do Vietnã e Boechat decorava dos jornais os nomes das aldeias e de seus rios, dos generais e de suas batalhas.
Em 1971, Nilo Dante, editor-chefe do Diário de Notícias, chamou-o e perguntou: ?Garoto, quer fazer um bico??. Ao responder sim, dava o primeiro passo de sua carreira de colunista: ?Então, vai nesse endereço aqui e procura o Ibrahim Sued?, encaminhou Dante.
Colunista – Com 18 anos, Boechat tomou um susto. Ibrahim Sued era uma celebridade da elite brasileira. E Boechat, comunista. No primeiro contato, Ibrahim perguntou: ?Você é de esquerda?? O garoto titubeou: ?Não, seu Ibrahim, só se for da festiva?. ?Ah, essa é a pior de todas. Pega ali os telefones e vai ligando. Diz que trabalha para mim, pede notícia e escreve
numa lauda e me dá?, ordenou Ibrahim, iniciando uma relação de chefe e empregado que duraria 14 anos.
Numa época em que a profissionalização do jornalismo era reduzida, acumulou empregos na coluna com o de repórter da Rádio Nacional, assessor de imprensa da Embratel, do Copacabana Palace e de Moreira Franco, então prefeito de Niterói, em 1976.
Interrompeu sua carreira com Ibrahim Sued em 1983, para assumir a Coluna do Swann no jornal O Globo. Dela foi titular por 18 anos, sendo que em 1997 passou a dar seu próprio nome à coluna. Houve uma interrupção no período em que, entre 1987 e 1989, assumiu a Secretaria de Comunicação Social do recém-eleito governador Moreira Franco. Boechat deixou ?O Globo?, no mês passado, após divulgação de grampos de conversas suas com uma fonte.
Informe – Pai de cinco filhos, Boechat assume um espaço que volta a ocupar três colunas de página como quando foi criado em 1962. Inicialmente, o Informe JB chamou-se Segunda Seção, uma criação -a pedido do então editor-chefe do jornal, Alberto Dines- do jornalista Wilson Figueiredo, cujo nome referia-se à unidade do Exército que cuidava do setor de informações reservadas. Substituía a coluna social escrita por Pedro Müller e tornou-se
um dos primeiros espaços de notas políticas da imprensa brasileira. Em 1966, foi rebatizada de Informe JB. De lá para cá, teve entre seus titulares Ancelmo Góis, Dora Kramer, Elio Gaspari, Marcelo Pontes, Marcos Sá Corrêa, Maurício Dias, Paulo Fona e Walter Fontoura.
*#@:?//&%!
Aviso à banca:
Todos os telefones desta coluna possuem misturador de voz. E seu editor também.
Mídia
A jornalista Paula Gobbi, do Los Angeles Times, foi eleita presidente da Associação dos Correspondentes Estrangeiros no Brasil. Tomará posse dia 10 de agosto, no Rio."
DITADURA
"Crítica e autocrítica", copyright O Estado de S. Paulo, 17/7/01
 "É incontestável que as diversas facções em que se dividiram os comunistas na luta armada, entre 1965 e 1975, foram fragorosamente derrotadas pelas forças da contra-insurreição, que contaram com o apoio popular. Mas igualmente é incontestável que os vitoriosos perderam não menos fragorosamente a batalha da comunica&ccccedil;ão, após a luta. A crer no que se escreve hoje, facínoras fardados dominaram o Brasil durante 20 anos. Até que ponto somos responsáveis, por erros e omissões, nas duas décadas citadas?
"É incontestável que as diversas facções em que se dividiram os comunistas na luta armada, entre 1965 e 1975, foram fragorosamente derrotadas pelas forças da contra-insurreição, que contaram com o apoio popular. Mas igualmente é incontestável que os vitoriosos perderam não menos fragorosamente a batalha da comunica&ccccedil;ão, após a luta. A crer no que se escreve hoje, facínoras fardados dominaram o Brasil durante 20 anos. Até que ponto somos responsáveis, por erros e omissões, nas duas décadas citadas?
Por que perdemos progressivamente importantes aliados ao longo do tempo necessário para eliminar a atividade da guerra revolucionária, combater a corrupcão e retomar o desenvolvimento?
A ameaça leninista fora desbaratada ao fim de 1973. Médici granjeara grande popularidade, palmeado até no Estádio do Maracanã. Os indicadores da economia eram, ao fim de seu mandato, excelentes. A inflação caíra para 12% ao ano. A Arena, braço político do regime, vencia amplamente as eleições livres. Era a oportunidade histórica para a normalização política. Mas o regime autoritário duraria mais dez anos, levando a suspeitar que a aventura do PC do B, no Araguaia, fora pretexto para a continuação no poder. Perdemos o momento adequado para devolvê-lo a um civil, em absoluta segurança. Durou demasiadamente a transição e acabou se dando com aparência de rendição A deposição de João Goulart tivera o apoio maciço da imprensa, das igrejas, dos políticos e do povo nas ruas, notadamente das mulheres das ?Marchas com Deus, pela Liberdade?. O desgaste começou pela perda progressiva do apoio da Igreja Católica. Basta ler a reveladora entrevista do cardeal Evaristo Arns, publicada recentemente em Histórias do Poder. Vice-provincial dos franciscanos, tomou a iniciativa de ir de Petrópolis ao encontro da tropa mineira, que iniciara a rebelião em 31 de Março de 1964, para oferecer-lhe assistência religiosa. Explica o cardeal: ?Então todos nós temíamos que viesse para o Brasil um período de anarquia e talvez até de comunismo.? Por que se transformou no mais candente opositor?
Os religiosos contrários a nós, em 1964, eram minoria quase ínfima e não alcançavam solidariedade da hierarquia. As encíclicas, especialmente as posteriores ao Concílio Vaticano II, criticavam o capitalismo liberal, fruto da realidade histórica do liberalismo individualista. Admitiam o neocapitalismo, que corrigiu erros, não só econômicos como sociais, mas ainda longe do ideal da justiça social plena. Todas, porém, a Mater et Magistra inclusive, que tratou da evolução histórica do pensamento de Marx, condenavam o marxismo, advertindo para o perigo de aceitar a análise marxista sem levar em conta a sua natureza imanentista e a sua prática totalitária. Encarregados de inquéritos militares houve, que, incapazes de distinguir da pregação marxista a crítica ao laisser-faire, indiciaram equivocadamente bom número de padres e bispos. Houve constrangimentos físicos, como ocorreu com dom Luciano Mendes, no Pará, ao visitar os agitadores padres franceses, presos. A dom Vicente Scherer, avesso à esquerda, negou-se o mérito educativo ?porque atacava o capitalismo?, embora só a sua forma liberal. Cresceu o atrito do governo com a Igreja. Da mera visita de conforto a padres e bispos enquadrados nos IPMs, boa parte dos hierarcas, antes visceralmente anticomunistas, passou à simpatia e posteriormente, como dom Arns, à colaboração com os militantes da Teologia da Libertação. Estes ganharam força. Nos púlpitos, nas santas missas, transformavam a homilia na severa crítica ao governo. Do apoio inicial passaram à animosidade.
Chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, em 1962, eu recebera um documento sigiloso do Exército, alertando para a infiltração de militantes comunistas, ou simpatizantes, nos seminários. Julguei tratar-se de delírio de suspeição. Não imaginaria, dez anos depois, assistir no gabinete do ministro Alfredo Buzaid a depoimentos, gravados em filme, de estudantes dominicanos do convento das Perdizes, em São Paulo. Lembro-me de um muito nervoso. Perguntado sobre qual o papel que desempenhava, disse ter feito o reconhecimento, na Rodovia Belém-Brasília, de unidades militares e casas de comércio. ?Com que fim??, pergunta quem não aparece no filme.
Resposta: ?Para entregar ao Carlos.? ?Que Carlos??, insiste o inquiridor.
?Carlos Marighella?, responde.
Fiquei perplexo, pois nunca passaria pela minha cabeça que os futuros frades pudessem ser militantes de uma organização de base comunista, aliando-se às ações sangrentas do terrorismo, homiziando alguns deles e levando outros para o exterior. Membros da ALN de Marighella, figuravam desde o prior frei Chico, mais Ives Lebausbin, Oswaldo Resende Jr., Carlos Alberto Libânio Christo (frei Beto), frei Tito, Fernando de Brito e outros. Lembrei-me da minha incredulidade ao ler o documento, fazia dez anos!
Não fomos capazes de conseguir que a Igreja isolasse esse núcleo radical seduzido pelo marxismo, do qual ainda hoje muitos não se curaram, ardorosos cultuadores de Marighella, como herói que, entretanto, levaram à emboscada fatal.
Com a imprensa livre até 13 de dezembro de 1968, o desgaste veio com o AI-5, pela imposição da censura, imperativo reclamado pela segurança do Estado numa guerra civil não declarada. Feita, aliás, por censores amadores e por vezes desastrados, a conseqüência não poderia ser outra. Importantes órgãos da mídia, que antes exigiram dos militares a deposição de João Goulart, romperam com os governos empenhados em vencer as guerrilhas e o terrorismo.
Alto custo que paga o Estado quando agredido por revolucionários. Se restringe a liberdade, torna-se autoritário. Os liberais viram inimigos, também. Se a mantém – como se dá na Colômbia há 40 anos -, arrisca-se ao suicídio. A luta armada, nesse aspecto, foi útil aos comunistas. O impasse levou à perda de duas poderosas alianças: a imprensa, pelo imperativo da guerra civil, que obriga à censura das informações, e a Igreja, pela infiltração marxista auxiliada por nossos erros. O brazilianist Thomas Skidmore, no começo dos anos 1970, diria ao Estado que ?o Brasil só duas resistências viu ao regime: a Igreja e as universidades?. Enganou-se ao não acrescentar a imprensa, ferida pela censura e infiltrada nas redações pela esquerda."