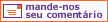COBERTURA DA GUERRA
"Guerra de informações", copyright O Estado de S. Paulo, 14/10/01
"Há algumas semanas, depois de uma rodada de briefings dominicais sobre segurança em Camp David, o presidente Bush foi para a Casa Branca com um pequeno grupo de conselheiros, onde fez uma declaração muito dura. ?Quem quer que divulgue qualquer informação considerada confidencial põe literalmente em risco a vida de alguém?, disse ele, segundo Ari Fleischer, porta-voz da Presidência.
Dia 5, a preocupação de Bush com o vazamento de informações se estendeu aos membros do Congresso. Furioso com senadores que teriam tornado públicas informações sobre a ameaça de novos ataques terroristas, comunicadas aos congressistas por funcionários do serviço de inteligência, Bush mandou chamar um dos líderes do Senado e lhe disse, segundo um auxiliar do legislativo, que limitasse as informações confidenciais passadas aos senadores.
Com a entrada dos EUA nesta primeira guerra do século 21, que, segundo Bush, ?há de ocultar até mesmo as vitórias alcançadas?, a restrição às informações por ordem de Washington será uma conseqüência da estratégia adotada.
Embora o governo diga que não pretende pôr em prática a censura, funcionários federais não hesitam em dizer que foram instruídos a ser lacônicos. A precaução desencadeou até uma ?operação limpeza? nos sites do governo – foram retirados mapas digitais em larga escala e um relatório sobre as precárias condições de segurança de algumas instalações químicas, por medo de que essas informações pudessem ser usadas por terroristas.
É sinal dos tempos a citação, pelo secretário de Defesa, Donald H. Rumsfeld, no pódio do Pentágono, no mês passado, das famosas palavras de Winston Churchill: ?Na guerra, a verdade é tão preciosa que deveria ser sempre acompanhada por uma escolta de mentiras.? Rumsfeld, que várias vezes disse no mesmo pódio que a divulgação de informações sigilosas era não só perigosa, mas também contrária à lei federal, acrescentou que não ?pretendia? mentir à imprensa sobre o estado atual e futuro das operações militares. Um sinal ainda mais bizarro é que Rumsfeld disse aos repórteres três vezes, ao citar Churchill, que não gostaria de ser citado, apesar de estar ao vivo na CNN.
O atual estado de sigilo é uma reminiscência da gestão do fluxo de informações pelo governo na época da Guerra do Golfo, estratégia supervisionada por Dick Cheney, então secretário da Defesa. ?Se tivéssemos de tomar certas medidas amanhã, eu começaria exatamente por onde terminamos?, disse ele sobre as restrições impostas à imprensa e a censura, depois da guerra.
Mary Matalin, assessora do vice-presidente Cheney, repeliu comparações entre as restrições impostas durante a Guerra do Golfo e as de agora, dizendo que não se devem misturar coisas distintas. Acrescentou não haver ?nenhuma nova diretriz? para limitar a informação. Mas reconheceu que o corpo de conselheiros da Casa Branca tem hoje ?nova consciência? da necessidade de se disciplinar sobre o que diz.
Embora se possa justificar o acesso restrito à informação com vista à proteção de vidas e à segurança das operações militares, nada impede que isso seja usado para obstruir a avaliação da ação governamental. Os efeitos disso já são perceptíveis em Washington. Fleischer pediu aos editores de jornais e aos serviços eletrônicos que não publiquem a agenda do presidente nem divulguem as novas medidas de segurança da Casa Branca.
No Pentágono, há bem menos informação sobre movimentação de tropas e uso de armas que na Guerra do Golfo. ?Claro que, por décadas, sempre tentaram manter as coisas calmas por aqui?, observou Charles Aldinger, da Reuters, decano da cobertura do Pentágono. ?Mas hoje a restrição é bem maior.?
Funcionários do Pentágono mostraram-se irritados quando a Casa Branca, para mostrar quão empenhada está em combater o terrorismo, divulgou números iniciais muito vagos sobre as ações militares. A porta-voz do Pentágono, Victoria Clarke, pareceu querer desacreditar os números ao rotulá-los de ?aproximados?.
No Capitólio, o secretário de Estado, Colin Powell, recusou convite da Comissão de Relações Exteriores do Senado para falar sobre a coalizão contra o terrorismo, porque, informaram funcionários, seria constrangedor fazê-lo enquanto Rumsfeld estava na Arábia Saudita e planejava ainda visitar três outros parceiros de fundamental importância, Egito, Omã e Usbequistão, para reuniões a portas fechadas. Powell, então, convidou os senadores para almoçar no Departamento de Estado, onde receberiam, em particular, as informações que desejavam.
A ligação de Bin Laden com os ataques de 11 de setembro só veio a público graças exclusivamente aos britânicos. Durante a Guerra do Golfo, quem atuava em conjunto com Dick Cheney era Colin Powell, que na época presidia a Chefia Conjunta de Pessoal e cuja ajuda resultou na decisão de administrar o fluxo de informações sobre o Golfo Pérsico de modo a respaldar os objetivos políticos da operação. Os artigos dos jornais eram analisados por censores militares e os jornalistas recebiam informações controladas. Powell disse na ocasião que as restrições eram necessárias para impedir lapsos de segurança:
?Não é como na 2.? Guerra Mundial, quando Patton acolhia em sua barraca seis ou sete jornalistas e discutia com eles. Se um comandante, durante a Operação Tempestade no Deserto, se sentasse com alguns repórteres da CNN e de outros órgãos da imprensa, um minuto depois toda a conversa estaria no ar em 105 capitais.?
Marlin Fitzwater, secretário de Imprensa da Casa Branca durante a Guerra do Golfo, se disse depois arrependido de ter autorizado a censura: ?Não me agrada haver alguém no governo encarregado de ler cópias de artigos.? Mas, em entrevista recente, disse não ser bem isso o que sentia sobre a guerra ao terrorismo: ?Creio que o atual conflito exigirá a suspensão de liberdades e de direitos. Será totalmente diferente do que já vimos, ao menos desde a 2.? Guerra Mundial.?
Segundo Fleischer, hoje as principais autoridades do governo, Rumsfeld, Powell e Cheney, foram postas à disposição, mais do que nunca, pela Casa Branca, para entrevistas coletivas; quanto a Bush, que raramente saía do script, vem respondendo a um número cada vez maior de perguntas dos jornalistas.
Fleischer reconheceu que as autoridades nem sempre se mostravam acessíveis, mas o público preferia assim: ?Não é o que dizem as autoridades que nos preocupa. É o tipo de pergunta que os repórteres estão fazendo que nos causa apreensão. A imprensa tem feito várias perguntas que, em minha opinião, o público americano preferia que não fossem feitas, ou respondidas. Será que a Casa Branca persistirá nessa atitude de sigilo e de controle ao acesso de informações confidenciais? Espero que sim.?
Houve também a divulgação de informações errôneas vindas da Casa Branca, uma em especial, dada por uma autoridade do alto escalão, de que uma ameaça bastante palpável havia sido comunicada por telefone ao Serviço Secreto em 11 de setembro, pouco depois dos atentados ao WTC e ao Pentágono, segundo a qual o avião presidencial ?seria o próximo alvo?. A informação foi passada à imprensa no dia 12, como explicação para o fato de Bush, ainda a bordo do Air Force One quando a ameaça foi feita, ter demorado a regressar a Washington. Bush foi criticado por ter passado o dia ziguezagueando pelo país, até chegar à Casa Branca, às 19 horas.
Em 26 de setembro, porém, segundo informou uma autoridade da alta administração, o governo concluíra que a ameaça ao Air force One era falsa:
?O que se disse sobre o Air Force One só foi divulgado porque se acreditava ser real.? A relutância em admitir que a ameaça não era real deu margem a críticas à Casa Branca, que estaria dando informações falsas para proteger politicamente o presidente.
Sabe-se agora de uma informação enganosa veiculada em Washington. Em abril de 1980, no governo Carter, com a Casa Branca pronta para lançar uma missão de socorro aos reféns do Irã, Jody Powell, secretário de Imprensa, foi questionado por Jack Nelson, do Los Angeles Times, sobre se o governo pretendia executar tal missão. ?Eu disse que não?, recordou Powell há dias.
?Em seguida, falei sobre os motivos por que não planejávamos pôr o plano em ação.? Segundo Powell, se respondesse só com um ?sem comentários?, seria como se desse razão a Nelson. Ele se disse ainda hoje incomodado pelo que teve de fazer, mas chegara à conclusão de que ?não tinha o direito de pôr em risco a vida das pessoas?. E concluiu: ?Se você estiver preparado para mentir com o fito de salvar vidas, e não deseja tratar o assunto de forma leviana, é bom que sua mentira seja muito boa.? (Elisabeth Bumiller é articulista do jornal The New York Times)"
"A guerra de propaganda no mundo islâmico", Editorial copyright O Estado de S. Paulo, 13/10/01
"Parafraseando o famoso comentário do escritor americano Mark Twain, ao ler uma notícia de que havia falecido, parecem ?ligeiramente exageradas? as interpretações segundo as quais Osama bin Laden já teria derrotado os Estados Unidos na guerra de propaganda travada no mundo muçulmano desde os atentados terroristas. O seu lance mais sensacional foi a ida ao ar – assim que começaram os bombardeios ao Afeganistão – do pronunciamento em que o eremita das montanhas afegãs se autoproclamou o escolhido por Deus para destruir a América, corrigindo-se logo em seguida para explicar que sua missão não se limita à destruição da América, mas sim de todo o mundo dos ?infiéis?, isto é, do mundo que não é islâmico.
De fato, as multidões que saíram às ruas de dezenas de cidades do Oriente Médio e da Ásia, com retratos do novo profeta do Armagedon (já), para a queima ritual de bandeiras americanas e bonecos representando o presidente Bush – enquanto a maioria dos governos pró-ocidentais da região mantinha um silêncio ensurdecedor -, pareciam dar fundamento à idéia de que a pregação do terrorismo como arma legítima contra os supostos inimigos do Islã conquistara o apoio da quase totalidade do bilhão de muçulmanos deste planeta, insensíveis diante das imagens da chacina de 11 de setembro e tornara irrelevantes as repetidas explicações de Washington e Londres sobre o alvo real de seus ataques – não um país, uma etnia ou uma religião, mas a barbárie.
?Foi confortador ouvir o xeque Anthony Charles Lynton Blair e o mulá George Walker Bush dizerem que o Binladeísmo é uma profanação dessa fé pacífica que é o verdadeiro Islã?, escreveu com sarcasmo o colunista Jonathan Freedland, do Guardian, de Londres, no artigo A guerra que Bin Laden já ganhou – que reproduzimos nesta edição. ?Teria sido mais tranqüilizador se veredictos semelhantes partissem de estudiosos do Corão de estatura ainda maior do que o primeiro-ministro britânico e o presidente americano.? Ao que tudo indica, o desalento é prematuro. Já se tem a primeira evidência substantiva de que está longe de terminar a batalha pelas convicções dos povos – e governos – muçulmanos.
Reunidos no Catar, representantes dos 56 países membros da Organização da Conferência Islâmica repudiaram em poucas mas inequívocas palavras os ataques aos Estados Unidos. ?Esses atos bestiais de destruição em massa? – afirma o documento final do encontro divulgado na quarta-feira – ?são contrários à religião, à moral e aos valores humanos.? Redigido com extremo cuidado, o texto evitou condenar diretamente a ofensiva aliada no Afeganistão – para alívio do secretário de Estado americano Colin Powell -, embora lamentasse – como era inevitável – as vítimas civis dos bombardeios e advertisse contra eventuais incursões a outros países, ?a pretexto de combater o terrorismo?.
O documento mostra que as lideranças islâmicas moderadas ainda prevalecem sobre os radicais – a começar do Irã, que convocou a reunião a fim de obter uma resolução antiamericana, embaraçosa para os países, como o Egito e a Arábia Saudita, que aprovaram tacitamente a guerra ao Al-Qaeda e ao Taleban.
Mas, além do Irã, apenas a Síria e o Iraque criticaram abertamente os Estados Unidos. É significativa, de todo modo, a distinção feita entre o terrorismo de Bin Laden e o que consideram movimentos de ?resistência à ocupação? dos territórios palestinos por Israel – referindo-se a grupos como o Hezbollah, do Líbano, e os palestinos Hamas e Jihad. Da ressentida retórica de Bin Laden, a questão palestina e a do contraproducente embargo econômico ao Iraque são os únicos argumentos tidos como legítimos, por unanimidade, no mundo muçulmano.
Eles delimitam o campo de batalha onde, a rigor, se decidirá a guerra de propaganda – ou de valores e estilos de vida – entre, de um lado, as democracias ocidentais e as forças seculares e modernizantes do mundo muçulmano e, de outro, os grupos fundamentalistas que, a sangue e a fogo, querem ver as teocracias imperando da Argélia, no Norte da África, à Indonésia, no Sudeste Asiático. Até aqueles pensadores árabes sem a menor complacência para a ?cultura da vitimização?, que pervade os países do Oriente Médio, sustentam que ?a comunidade internacional tem a responsabilidade de dar uma resposta aos reclamos políticos das sociedades muçulmanas?, como escreve o colunista Hazem Saghiyeh, do prestigioso jornal árabe Al-Hayat, de Londres, no artigo Nem tudo é culpa da América, publicado esta semana pela revista Time.
Decerto, a propensão maligna para o terrorismo religioso não depende disso.
Já o poder de catequese dos grupos terroristas e a popularidade de seus líderes dependem, sim, de mudanças nos países islâmicos e da redefinição de suas relações com o Ocidente."