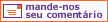ANTILANÇAMENTO
Entrevista de Ricardo Setti a Luiz Egypto
A História Secreta do Plano Cruzado, de Ricardo
A. Setti, 96 pp., Editora Canarinho, São Paulo, 2001
Em 1986, o jornalista Ricardo Setti ganhou o Prêmio Esso de Reportagem com a matéria "O dia em que Sarney derrubou a inflação ? Exclusivo: a história secreta da mais ousada reforma econômica de todos os tempos no Brasil", publicada naquele mesmo ano pela revista Playboy. Prêmio merecido, diga-se. As reportagem é um primor na apuração e no estilo em que foi redigida.
Quinze anos depois, seu autor deixou o dia-a-dia das empresas jornalísticas e decidiu transformar a antiga matéria em livro. Imprimiu 1.000 exemplares numerados e autografados e encarregou-se ele próprio da distribuição. A edição não foi para as livrarias e agora está virtualmente esgotada. Mas, qual o sentido de editar em livro uma reportagem "velha"? É o que Setti explica, na entrevista a seguir.
Por que republicar uma reportagem datada, tantos planos econômicos depois? O que a justifica em livro?
Ricardo Setti ? O que me levou a isso foi, em primeiro lugar, o carinho especial que tenho por essa reportagem, mesmo que não a considere o que de melhor produzi na carreira. Dei um duro danado para faz&ececirc;-la, como qualquer colega jornalista poderá imaginar até pela extensão do texto. Numa época em que a reportagem individual já estava em retração, em que trabalhos de fôlego, nas redações, já eram realizados por mutirões, conduzi tudo pessoalmente, sozinho, em Brasília, Rio e São Paulo ? quase 50 entrevistas (só uma ou duas por telefone), o texto final e o fechamento. Não foi moleza. Quando, na edição da matéria como livro, fomos fazer o índice remissivo, verifiquei que havia 130 personalidades citadas. Em segundo lugar, foi o fato de ela ter sido premiada com o Esso de Reportagem. Apesar de, àquela altura, já ser um sujeito calejado por duas décadas de profissão, fiquei muito comovido pelo reconhecimento de um júri de colegas de peso. Ela até obteve outros prêmios, mas foi esse que tocou minha alma.
Mais do que tudo, talvez, o que me fez pensar em tornar um pouquinho mais perene esse texto foi a constatação de que ele permaneceu na memória de muitos amigos e colegas por bem mais tempo do que a média das matérias que fazemos ? depois de um curtíssimo prazo, bem sabemos, nem a mãe, a mulher ou os filhos da gente se lembram de mais nada. Neste caso, ouço há anos ecos desse trabalho, aqui e ali, bem como referências à técnica que utilizei ? dois tempos diferentes de uma história correndo paralelamente, até se encontrarem no fecho. Ainda recentemente, soube de colegas que deram aula em faculdade com base nela, ou fizeram workshops para suas redações adotando-a como texto-base, tantos anos depois de ter sido publicada. Mas costumo brincar que o culpado dessa história é o meu bom e velho amigo Humberto Werneck. Ele transformou em um pequeno opúsculo a magnífica entrevista que fez com o escritor José Saramago, publicada na revista Playboy de outubro de 1998, numa época em que a revista era, digamos, bem diferente do que é hoje. Vi o livrinho, achei uma beleza e ele próprio me sugeriu: "Por que você não faz isso com aquela sua matéria sobre o Plano Cruzado que obteve o Prêmio Esso?" E resolvi fazê-lo como uma espécie de comemoração da minha mudança de vida, da decisão de deixar definitivamente a vida corporativa para voltar apenas a escrever.
Quanto tempo durou a apuração? Em que circunstâncias você trabalhou?
R.S. ? A apuração durou cinco semanas. Trabalhei em circunstâncias muito difíceis, por várias razões. Em primeiro lugar, o pessoal responsável pelo Cruzado e a equipe econômica do governo de então estavam terrivelmente pressionados ? pelas dificuldades de gestão do plano, pelos partidos políticos, pelos lobbies, pela opinião pública, pela imprensa. Não tinham tempo nem para respirar, quanto mais para entrevistas longas, como as que fiz. Em segundo lugar, embora fosse um sujeito respeitado como jornalista, eu estava há alguns anos fora do dia-a-dia político brasileiro ? tinha trabalhado sete anos consecutivos na Internacional da Veja e, ao retornar aos assuntos nacionais, o fiz como redator-chefe da IstoÉ, o que me tomava muito tempo na redação. Portanto, o acesso às fontes não foi muito simples. Em terceiro lugar, havia um grande preconceito das fontes em relação a Playboy, que muita gente não via como uma revista que, ao lado de ensaios de mulheres nuas, praticava então um excelente jornalismo. Tive que quebrar essa barreira com seriedade e rigor profissionais na condução das entrevistas e, de forma indireta, deixando que as fontes entrevissem nas conversas que quem estava ali era um jornalista detentor de determinadas credenciais. Além de tudo, a história era muito complexa e as fontes a serem ouvidas eram muitas, em tempo relativamente escasso para um trabalho de grande fôlego.
Com que olhos a vê agora?
R.S. ? Acho que o livro é um relato minucioso, neutro e acrítico. Hoje eu o consideraria acrítico demais. Deixou propositalmente de esmiuçar problemas e contradições do ainda recém-lançado Plano Cruzado e também não aprofundou o debate que havia entre diferentes correntes de economistas na época. Hoje, eu manteria a apuração que fiz, mas aprofundaria mais o enfoque ? coisa que o veículo de publicação, Playboy, obviamente não comportava. O foco se dirigiu mais para os bastidores de uma história com lances de aventura. Arrisco-me dizer que ainda hoje tem qualidade e interesse.
A matéria foi publicada numa revista mensal, de periodicidade propícia a reportagens de fôlego. Onde estão as reportagens de fôlego da imprensa brasileira?
R.S. ? Elas estão desaparecendo, infelizmente. Para não ser injusto, acho que os grandes jornais ainda trazem reportagens de fôlego. As revistas semanais, às vezes, também ? mas cada vez menos, e de menos fôlego. Os responsáveis pelas redações partem do pressuposto de que os leitores não querem "textos longos". Isto em geral é verdade, mas, apresentado a reportagens de qualidade, de relevância, que tenham emoção e sangue nas veias, mesmo sendo extensas, uma camada numerosa de leitores de peso se interessa, sim, e muito. Lembro-me de que, ao longo dos cinco anos em que dirigi Playboy, do final de 1994 ao final de 1999, nas diversas pesquisas qualitativas realizadas com leitores de diferentes níveis ficava evidente que havia, sim, espaço para reportagens extensas e entrevistas enormes, de extensão inigualável na imprensa brasileira. Os leitores ? até os que não liam a entrevista direito ? tinham orgulho de ver a revista abrigar material daquela densidade.
Você retirou-se da operação, do jornalismo periódico, depois de anos de redação e de gabinetes. Largou o emprego formal com experiência e com reconhecimento dos seus pares. Cansou de liderar equipes? Gostou de comandar pessoas?
R.S. ? Não, não me cansei de liderar equipes e, sim, gostei muito de comandar pessoas. O que aconteceu é que mudou o perfil do gestor de redações exigido atualmente pelas empresas jornalísticas. As empresas de comunicação entendem que hoje esse gestor ? diretor de redação ou que nome tenha ? não pode ficar restrito apenas à operação editorial, embora ela seja a mais importante de tudo, a alma do negócio. Esse novo perfil exige o envolvimento do jornalista no negócio propriamente dito. Não me refiro ao jornalista vender publicidade ou coisas do tipo, claro, mas a uma necessidade de que ele tenha preocupação permanente com resultados, acompanhe a evolução do negócio, faça o aprendizado e a prática do planejamento estratégico e uma série de outras atividades que, no meu caso, acabaram tendo dois impactos. O primeiro é que eu não sentia que aquilo tudo era o que de melhor eu poderia dar às empresas como profissional. Não era o meu forte, o meu lado melhor, sobretudo do ponto de vista técnico. O segundo é que meu coração não estava nisso, mas no editorial em si. Quando, no passado, pude comandar equipes numa atividade voltada primordialmente para o jornalismo, fui imensamente feliz. Por exemplo, de 1986 a 1990, quando dirigi a então numerosa e influente sucursal de São Paulo do Jornal do Brasil, que era liderado no Rio por aquele que reputo, de longe, um dos melhores, mais talentosos e mais éticos jornalistas deste país, o Marcos Sá Corrêa. O que a gente aprontou nesses quatro anos foi uma maravilha. Só para lembrar um entre tantos feitos da equipe: foi nesse período que o Luiz Maklouf Carvalho descobriu, em plena campanha presidencial de 1989 ? a mais importante eleição realizada no país até então ? que o Lula tinha a filha Lurian. Usada de forma sórdida na campanha, a informação, que era correta e foi publicada numa reportagem perfeita do ponto de vista técnico e ético, acabou decidindo a eleição de 1989, a meu ver.
O jornalismo industrial diário anda muito burocratizado ou é impressão minha?
R.S. ? Anda, sim. Não é impressão sua. Os fatores são muitos. Acho que valem uma entrevista inteira, um debate inteiro entre jornalistas. Mas o fato é que há uma ânsia febril pela notícia espetacular ? e não entre os patrões, ou pelo menos não apenas entre eles. Isso ocorre entre os jornalistas, entre nós, os que comandam e os que são comandados. Na cobertura dos acontecimentos, em geral não se questiona, não se pergunta, não se examinam os antecedentes e não se colocam os fatos em perspectiva. Claro que há exceções, há veículos e há jornalistas que fogem disso. Mas o panorama que você aponta é verdadeiro, de uma forma geral. Se isso não mudar, o jornalismo diário corre um risco terrível ? o risco da irrelevância, de ser uma mercadoria dispensável.
Nilson Lage, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, refere-se, no último livro dele, a uma institucionalização "além da realidade" da relação de emprego nas empresas jornalísticas. Quer dizer: o jornalista que pretenda carreira é necessariamente uma pessoa "da casa" ? seja qual for a casa. Você foi quase sempre um profissional de staff, de cúpula ? chefe, como se diz. O que existe de pior para um jornalista obrigado à (ou abrigado na) vida corporativa?
R.S. ? Respeito a posição do Nilson, e ressalvo que não li o livro. Mas essa impressão, pelo menos na grande imprensa, é mais uma idealização acadêmica, teórica, do que uma realidade. Há muita teoria conspiratória envolvendo os patrões, "a Casa". Tenho quase 37 anos de profissão (comecei cedo em redações, aos 18 anos), passei por várias empresas, pequenas, médias e grandes, e praticamente não vi, ao longo desse longo período, as sacanagens que o leitor comum imagina que acontecem. Em geral, quando se falava em "a Casa quer isso, a Casa quer aquilo", eram os prepostos dos patrões que faziam caminhar as suas preferências e idiossincrasias. Há provavelmente quem vai querer me apedrejar por causa disso, mas posso testemunhar que, em quase quatro décadas da prática do jornalismo, não me lembro de uma única ? perdoe-me a má palavra ? escrotidão realmente grave, de peso, que me tenha sido pedida, exigida ou ordenada por um dono de empresa. Lembro-me, porém, de várias maquinadas por colegas que, eventualmente, ocupavam cargos de chefia, seja em relação a matérias, seja em relação a outros colegas.
Isso não significa que não haja problemas sérios na propriedade dos meios de comunicação do país. Mas em geral os jornalistas que ocupam cargos de chefia desfrutam de um grau bem razoável de liberdade editorial e sua lealdade à empresa não os obriga a atravessar a linha da ética.
Como avalia a controvérsia em torno da obrigatoriedade do diploma em Jornalismo para o exercício da profissão? Os termos da discussão estão bem-postos?
R.S. ?Sempre estive entre os que não consideram necessário o diploma de jornalismo para exercer a profissão. É um absurdo privar o leitor, o público, das melhores cabeças em cada área de conhecimento por falta de diploma. Imagine você, por exemplo, a hipótese de o Albert Einstein ? que, aliás, escrevia maravilhosamente ? estar vivo. No Brasil, ao pé da letra da lei, ele não poderia ser editor de ciência de revista ou jornal, a menos que voltasse, aos 70 e tantos anos de idade, aos bancos escolares para obter o diploma. Tem cabimento isso? Felizmente, nos últimos anos, uma série de iniciativas das faculdades de jornalismo, das empresas de comunicação e dos jornalistas tem contribuído para diminuir o abismo que existia há 15 ou 20 anos entre a vida real da profissão e o que era ensinado aos alunos. Tínhamos, de um lado, grandes jornalistas que não podiam ensinar nas faculdades (e nem se interessavam por isso) por falta de titulação acadêmica. E, de outro, professores teoricamente encarregados de preparar futuros jornalistas para a profissão que nunca tinham, na verdade, exercido a profissão, ou que não tiveram por ela uma passagem minimamente relevante.O quadro melhorou muito: temos muitos excelentes jornalistas nas faculdades, e temos professores mais sintonizados com a profissão e com as exigências do mercado de trabalho. Iniciativas como o Curso Abril de Jornalismo em Revistas e cursos semelhantes no Estadão, na Folha, o Globo, na Zero Hora e em outros veículos contribuíram muito para a melhoria geral do ensino e da profissão.
O debate, apesar disso, ainda continua um tanto radicalizado e envolve inegáveis aspectos de corporativismo por parte de nós, jornalistas. Talvez um bom meio-termo a ser negociado com o Congresso na futura regulamentação da profissão seja exigir curso superior de quem quer trabalhar em jornalismo, eventualmente com a obrigação de esse futuro profissional cursar alguma pós-graduação específica em comunicação, mas de curta duração.
Quais são as melhores pautas do momento? E por quê?
R.S. ? As melhores pautas do momento são as centenas de pautas que, diariamente, são mal desenvolvidas nos jornais, nos sites de notícias, nas revistas, nas emissoras de TV… A pressa não pode ser pretexto para a má qualidade, inclusive ? parênteses ? pelo péssimo português. Não consigo acreditar no que acontece, por exemplo, e para ficar em um só exemplo, durante as viagens do presidente da República ao exterior. Não de FHC, apenas. De qualquer presidente ? era assim com Itamar, com Collor, com Sarney. A mídia manda enviados especiais, que custam dinheiro: viagem, hospedagem, refeições, infraestrutura de comunicações. Mas, na maioria dos casos, veja só, eles se limitam a reproduzir ou comentar o que o presidente disse. Não há nada daquela atividade primeva, que deu origem ao jornalismo: a descrição. Aquela história simples, singela, óbvia e necessária de o sujeito ir lá, ver como foi e contar para os outros ? no caso, o leitor. Na grande maioria dos casos, temos uma cobertura paupérrima, declaratória, só com aspas. Não se descrevem climas e ambientes, não há bastidores, não há side stories. Às vezes, o repórter não diz nem se chovia ou fazia sol naquele dia. Meu Deus, para isso, basta pegar o material oficial que o governo divulga! Ou mandar um gravador cobrir a viagem. Até colegas de respeito, experientes, caem nessa, inclusive na TV.
Mas uma das pautas do momento, uma das principais, a meu ver, é a nossa obrigação de cobrir direito as eleições presidenciais que se aproximam. Não cobrir as picuinhas, as fofocas, a mera disputa eleitoral ? isso precisa estar lá, claro, mas não é o principal. Precisamos contar para o leitor o que está em jogo, quais são as alternativas que os candidatos vão oferecer ao país, se elas são ou não viáveis, o que elas vão ter como resultado… Não podemos fazer como na cobertura da Constituinte, entre 1987 e 1988. Como diz o Marcos Sá Corrêa, todos nós ficamos cobrindo a cartolagem ? as manobras políticas, as brigas, as disputas ? e deixamos em segundo plano a discussão aprofundada de uma série de questões que iriam, logo em seguida, para o bem ou para o mal, afetar a vida de todos os brasileiros.