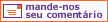MORTE NA VIDA REAL
Paulo José Cunha (*)
A televisão tem o estranho poder de fazer a face do telespectador praticamente roçar a face da realidade e, paradoxalmente, ao mesmo tempo provocar uma sensação de ficcionalização do fato real, um estado de alheamento, uma estranha forma de autismo crítico que amortece a explosão emocional imediata, sobretudo quando o fato aparece na tela sob a forma de catástrofe. Observe que não usei a palavra "distanciamento", pois a sensação é tanto mais intensa quanto mais nos aproximamos do objeto sob o foco das câmeras.
Tivesse o atentado terrorista do dia 11 em Nova York e Washington ocorrido há 60 anos e provavelmente teria havido uma imediata reação de pânico coletivo, uma convulsão muitas vezes maior do que a profunda mas contida sensação de impotência e horror com que se comportou o mundo inteiro diante das telas de tevê. Provavelmente, pelo seu efeito narcótico e em conseqüência da banalização das imagens neste início do terceiro milênio, a tevê talvez seja uma das responsáveis pela perplexidade paralisante que tomou o lugar da reação desesperada como a que se verificava em outros tempos em circunstâncias semelhantes.
Orson Welles, em 30 de outubro de 1938, com a simples dramatização radiofônica da chegada dos marcianos provocou um pânico assustador, com famílias entulhando as estradas, num tumulto que beirou o caos. O atentado terrorista, ao contrário, teve um efeito paralisante. "Parecia cinema", observou-me um amigo interrompendo a redação deste artigo. Aí é que está o ponto, não parecia: era cinema. Na tevê, as cenas adquiriram tal realismo que se transformaram num documentário em tempo real. Era quase possível ouvir o barulho de dedos nervosos pegando as pipocas para levar à boca.
Mas, tal como na arte dos hiper-realistas, as imagens, de tão reais, transpuseram o portal da realidade, transformaram-se em "criações" midiáticas, instantaneamente elevadas à condição de ícones do terceiro milênio. O que a tela da tevê exibiu durante toda terça-feira 11 de setembro não parecia cinema. Era cinema e as imagens foram tratadas pelos narradores como cinema.
Por repugnante que possa parecer à primeira vista, é curioso verificar o tom da narração dos âncoras das principais televisões do mundo, inclusive as tupiniquins, ante as primeiras imagens que chegaram às telas. A dimensão humana só alcançou os narradores depois de quase uma hora de transmissão. As exclamações só atingiam o espetáculo, não a essência da tragédia. Só depois alguém começou a se lembrar que ali dentro e em volta havia pessoas, filhos de pessoas, cachorros, bocejos de sono, tíquetes de metrô e gente cheirando a loção de barba no início de uma manhã nova-iorquina como qualquer outra.
Esses âncoras não merecem condenação, entretanto. Moveram-se pela lógica intrínseca dos próprios fatos, visivelmente produzidos tendo em vista seus efeitos midiáticos. Os autores do atentado poderiam perfeitamente atingir muito mais vidas humanas se tivessem produzido uma explosão em local de grande densidade populacional, causando milhares de vítimas. Ainda assim não teria tido o efeito desejado. O alvo não foi o World Trade Center, mas sim o que ele representa. Mirou-se o símbolo, não o prédio. Além da facilidade ? atingir com um avião um edifício vertical é mais fácil, mesmo para um piloto inexperiente ? os autores do atentado tinham consciência plena de que estavam cravando uma seta no coração do império, em sua face mais visível e ostentatória.
Imagem do novo século
Poderia ter sido algum prédio de Walt Street? Poderia, mas não teria o mesmo efeito midiático. A imagem seria apenas um monte de escombros enfumaçados. Ao contrário, ao atingir as torres do World Trade Center, o avião não acertou apenas um fantástico edifício-símbolo do poderio econômico americano. Aquele avião acertou o olho da câmera de tevê. Este era o alvo.
O complemento da ação tinha de alcançar outro ponto, este não exclusivamente visual, mas igualmente simbólico. O ataque ao Pentágono ? realizado com a perícia de um piloto experimentado pois, segundo os especialistas, é extremamente difícil, pelo efeito da paralaxe, acertar de dentro de um avião de carreira um alvo horizontal ? teve o efeito-demonstração de dizer ao mundo que o coração do poderio militar americano estava igualmente sendo atingido. As imagens já não foram tão espetaculares, mas, neste caso, importava mais a leitura a ser feita. A mensagem foi enviada, recebida, lida e entendida.
De tudo o que se assistiu é possível tirar a conclusão de que o centro da ação não estava nas vítimas nem nos danos materiais ? e sim na mídia. O espetáculo foi minuciosamente produzido para passar na televisão, criando, com o avião perfurando a segunda torre do WTC, a primeira imagem a simbolizar o novo século. Aquilo lá não parecia cinema. Era cinema. Com todos os efeitos especiais que só Hollywood é capaz de realizar.
(*) Jornalista, pesquisador, professor de telejornalismo. Dirige o Centro de Produção de Cinema e Televisão da Universidade de Brasília. Este artigo é parte do projeto acadêmico “Telejornalismo em Close”, coluna semanal de análise de mídia distribuída por e-mail. Pedidos para <upj@persocom.com.br>