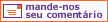POLÍTICOS vs. JORNALISTAS
Luiz Weis (*)
Entre um gole de scotch e um bocado de torta de palmito, o ministro se entrega ao segundo mais apreciado esporte dos políticos: falar mal da imprensa. (O primeiro é falar mal dos outros políticos.)
As queixas do ministro parecem o copo que ele empunha: meio cheio, meio vazio ? de argumentos, no caso.
A metade cheia consiste em deplorar a doença do denuncismo: o costume da imprensa, ou de parte dela, de atirar primeiro e perguntar depois. Ou, nas palavras do reclamante, de "presumir que todos são culpados, salvo prova em contrário, ou mesmo apesar das provas em contrário".
Os "todos" a que se refere são os seus semelhantes: políticos tucanos e altos funcionários federais idem. Eles, de fato, são os alvos por excelência de um tipo de jornalismo movido em parte pelo velho e mau sensacionalismo, em parte por uma cultivada atitude nihilista diante da política e de seus vagares, engalanada de um pós-modernismo blasé para o qual o governo ? esse mal necessário ? deve ser invariavelmente tratado com derrisão e desdém.
A imprensa que assim se comporta consegue a proeza de errar ainda mais do que os governantes que passam tempo intoleravelmente excessivo absorvidos na tarefa de enrolar o público ? do que não se exclui a turma do Planalto.
A reportagem política praticada daquela forma por um pessoal que da missa do poder não entende a metade, nem está interessada em entender, é um perverso arremedo do celebrizado "jornalismo investigativo" à Bernstein & Woodward.
Arremedo porque menos descobre do que acusa e perverso porque passa para o público a sensação de que do lado de lá do balcão nada presta e tudo é mentira.
O colaborador do presidente também está certo quando desespera de persuadir os repórteres e editores, que salivam diante dele como predadores diante da presa, de que este governo não é necessariamente o último refúgio dos canalhas e mereceria, no mínimo, o benefício da dúvida. Sem a intenção de fazer jogo de palavras, é o caso de dizer que a sua tentativa é tão fútil como a pretensão de ler jornal debaixo de uma ventania.
O copo do ministro fica meio vazio, porém, quando ele invoca para si e para os seus a condição de vítima exclusiva da "sanha denuncista" (a expressão não é dele, mas de recente editorial do diário O Estado de S.Paulo, que, por sua vez, carrega a fama de jornal-chapa-branca).
O furor desaba democraticamente à esquerda e à direita. Pergunte-se a Lula e a Maluf se acham justo o modo como são tratados pela mídia, e a resposta será cópia xerox do protesto tucano. Isso, a propósito, não prova que a imprensa de que aqui se trata é cega como se desejaria que fosse a justiça, no bom sentido. Prova apenas que para ela é tudo farinha do mesmo saco.
"Cortem-lhe a cabeça!"
Outro ponto que parece escapar ao queixoso é que a imprensa de relho em punho pode não saber por que bate, mas alguns dos chicoteados deviam saber por que apanham.
Sua excelência não se conforma, por exemplo, quando os repórteres levantam as sobrancelhas ao ouvir de grão-tucanos a versão de que foram puros como passarinhos na operação que levou Jader Barbalho à presidência do Senado ? ou aos "píncaros da glória", no delicioso clichê em boa hora exumado pela editora de política do Valor, Maria Cristina Fernandes.
Reduzida a pele e ossos, a história oficial é esta: depois que o deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas, fincou pé na decisão de tirar da boca do pefelista Inocêncio de Oliveira o doce da presidência da Câmara, o partido fez um pacto legítimo com o PMDB, na base do "você me coça as costas na Câmara e eu coço as suas no Senado" ? de resto, um investimento de interesse mútuo tendo em vista a sucessão de 2002.
E aí entra o argumento que jornalista nenhum compra: acordo fechado, como é que o PSDB podia deixar de votar no candidato pemedebista no Senado, ainda mais se tratando do presidente do partido e mais ainda levando ele caneladas de ACM?
Se podiam, ou não, problema dos tucanos. O que definitivamente não podem é pedir que a imprensa engula o que a opinião pública regurgita: que não fizeram um pacto com o diabo no escândalo de pôr na direção do Poder Legislativo um senhor cuja folha corrida a ninguém do ramo era dado ignorar.
E assim se chega ao fundo do copo pela metade, que a uns parece meio cheio e a outros, meio vazio: tão condenável como o jornalismo do gênero Rainha das Aventuras de Alice no País das Maravilhas, que passa o dia gritando "cortem-lhe a cabeça!", é o vício dos políticos de pedir a cabeça do mensageiro quando as mensagens que ele transmite os deixam mal perante a sociedade.
Mesmo porque, como lembra o ex-governador do Distrito Federal, Cristovam Buarque, no artigo "Apelo à imprensa" (Correio Braziliense, 25/7), "a história brasileira dos últimos dez anos foi feita muito mais pela imprensa do que pelos políticos" [veja Aspas abaixo].
(*) Jornalista
ASPAS
"Apelo à imprensa", copyright Correio Braziliense, 25/7/01
"A história brasileira dos últimos dez anos foi feita mais pela imprensa do que pelos políticos. Não fosse o trabalho sistemático, competente e cuidadoso de jornalistas, o Congresso não teria cassado presidente, senadores e deputados. E criado um clima propício para a abolição da corrupção no Brasil. Nada mais fosse feito daqui para frente, o Brasil já mudou, graças ao medo que se instaurou nos políticos brasileiros, depois de perceberem que não ficam impunes quando a imprensa os denuncia.
Mas essa mesma imprensa tão dedicada e competente para desvendar o crime de roubo de desvio de recursos públicos para bolsos privados não tem dado atenção ao desvio de recursos públicos de projetos essenciais para projetos supérfluos; a imprensa que denuncia os roubos ilegais não usa o mesmo rigor para denunciar os roubos legais perpetrados dentro do Congresso, durante a definição dos orçamentos públicos.
Fica a imagem de que a imprensa vê e denuncia quando o roubo ocorre dentro da elite, de um senador roubando de um prédio de luxo que deveria servir aos membros da elite; mas não vê quando dinheiro de escola vai para viaduto, de hospital vai para subsídio a empresário.
Isso vai ocorrer nos próximos meses, quando, sob o manto da indiferença da sociedade civil, o Congresso estará elaborando o Orçamento para 2002. Ali, provavelmente, novos TRTs aparecerão, novos desperdícios serão definidos, e o povo continuará excluído. O Orçamento será elaborado para atender a demanda e os privilégios dos ricos e não as necessidades e os direitos dos pobres. Até que, anos depois, se um privilegiado roubar privilégios de outros, a imprensa desperta, a sociedade civil acorda, as entidades sociais se mobilizam para cassar e até prender o privilegiado que roubou de privilegiados.
Isso poderá avançar, se a imprensa passar a escrutinar desde agora os gastos propostos no Orçamento, identificando os desperdícios, as injustiças com os esquecidos, os privilégios assegurados por lei. Se isso for feito, além da denúncia, será possível elaborar um orçamento ético. Não apenas ético no comportamento futuro de políticos impedidos de roubar, mas ético nas prioridades de atender os interesses populares, um orçamento que ponha a abolição da pobreza em primeiro lugar.
O Orçamento para 2001 prevê R$ 3,7 bilhões para o Fundo de Erradicação da Pobreza, pouco mais de 1% do total da receita do setor público brasileiro. São esses recursos que vão permitir o Programa Bolsa-Escola e a construção de redes de água e esgoto no Brasil. Não fosse uma comissão do Congresso, os recursos não existiriam e os programas não seriam implantados. Mesmo assim, são recursos insuficientes para uma estratégia de abolição da pobreza.
Seriam necessários R$ 40 bilhões por ano, durante dez a quinze anos, para que o Brasil abolisse o quadro de miséria que nos envergonha, hoje, tanto quanto a escravidão nos envergonhava cem anos atrás. Para o próximo ano, bastaria que o Fundo de Erradicação da Pobreza fosse ampliado para R$ 15 bilhões a R$ 20 bilhões. Com esse valor, o Brasil já daria um enorme passo na garantia de água e esgoto, reformulação de sua rede de saúde pública, universalização e melhoria na qualidade da educação.
Esse valor não será maior do que 5% do total previsto das receitas do setor público brasileiro, 1,5% da renda nacional. Valor perfeitamente dentro das possibilidades dos recursos nacionais.
Não é papel da imprensa mostrar de onde esses recursos deverão sair, mas é seu papel mostrar os roubos legais dos desperdícios e das injustiças que estão sendo programados, denunciar os benefícios a corporações, a preferência pelos gastos que nada têm que ver com os interesses populares.
Se uma parte da imprensa usar, na cobertura do trabalho de elaboração do Orçamento, o mesmo esforço e competência adotados na cobertura dos escândalos do presidente Collor, do senador Luiz Estevão e do senador Jader Barbalho, o Brasil terá toda a chance de ter um orçamento ético: comprometido primeiro com as necessidades sociais.
Para isso, basta um mínimo de dedicação na análise do que está na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nas emendas que serão votadas ao longo dos próximos meses. A primeira tentativa para conseguir um orçamento ético já foi derrotada, quando a deputada relatora se negou a acatar proposta da senadora Marina Silva para criar uma rubrica que definisse os recursos destinados ao orçamento social. Isso ocorreu sem que a imprensa desse atenção, ainda menos denunciasse. Outros fatos vão ocorrer discretamente dentro do Congresso, em cada assembléia legislativa, câmara de vereadores ou distrital. Até que a imprensa descubra que precisa cuidar da ética nas prioridades da política e não apenas da ética no comportamento dos políticos.
A ética no comportamento serve para evitar a corrupção de políticos que se apropriam privadamente de dinheiro público, mas só uma ética nas prioridades vai evitar que o setor público aproprie para os ricos os recursos que deveriam ir para a abolição da pobreza no Brasil.
Há um século, a incipiente imprensa brasileira teve papel de destaque na luta pela abolição da escravidão; em pleno século XXI, a moderna, eficiente e decente imprensa brasileira precisa ter seu papel na luta pela abolição da pobreza, ajudando o Brasil a ter um orçamento ético em 2002. Para isso, basta nos próximos meses ficar atenta ao trabalho dos parlamentares na elaboração do Orçamento, com a mesma dedicação e competência com que ficou atenta ao comportamento dos políticos nos últimos anos. [Cristovam Buarque, ex-governador do DF, é professor da UnB e autor do Livro ?A Segunda Abolição?]"
"Condenação virtual", copyright Correio Braziliense, 29/7/01
"Toda a acesa discussão sobre o papel e os limites da atuação da imprensa, das comissões parlamentares de inquérito e mesmo do Ministério Público na apuração e, por que não dizer, no ?julgamento? da enxurrada de crimes contra a administração pública que parece inundar o país está a merecer um momento de reflexão.
O cinema, como coadjuvante da história, leva-nos a meditar sobre o nosso tempo, as ações que se desencadeiam sob o furor das emoções, o eterno dilema do para que tudo isso, e para onde, afinal, estamos indo, numa banal constatação de que a vida, quase sempre, tende a ser uma imitação da arte. Refiro-me ao filme Young Mr Lincoln, clássico mundial que na década de 50 ? embora produzido em 1939 ? projetou ninguém menos que John Ford. A película, que somente foi reconhecida pela crítica americana após ter sido vista na URSS e merecido acalorados elogios de Eisenstein, retrata o início da carreira política do jovem Lincoln, numa fase da vida menos conhecida do futuro presidente dos EUA, abolicionista cuja eleição desencadearia a Guerra da Secessão e que viria a ser morto por um escravista fanático.
Relata o filme um episódio em que Lincoln se vê compelido a intervir contra a multidão em fúria, que quer impor a Lei de Lynch e enforcar dois irmãos suspeitos de homicídio. Abraham Lincoln dissuade-os com grande presença de espírito, além de uma conveniente citação bíblica das bem-aventuranças. Enforcá-los, diz ele, sem direito a um julgamento justo, é colocar em risco o futuro dos próprios filhos e, em conseqüência, destruir tudo o que a civilização americana tinha até ali conquistado, em termos de garantias do cidadãos (?o poder começa quando cada um sentir como sua a lei de todos?, diz Lincoln no discurso com que acalma os linchadores).
John Ford apresenta-nos, enfim, a construção da rule of law como protetora dos direitos individuais, sinal de civilização, com rigorosas regras do procedimento, das quais se destaca o right to a fair trial com o julgamento pelo tribunal do júri, um dos ícones do direito americano (basta lembrar que na Declaração de Independência, de 1776, os conjurados queixam-se da atitude do rei da Inglaterra em retirar-lhes o direito de serem julgados por um júri). Representa o ideal do direito como ordem das coisas, simplesmente baseado na noção do bem e do mal, do certo e do errado. A leitura do clássico Commentaries on the Laws of England, de William Blackstone (1765), leva o jovem Lincoln a querer ser advogado, aliada, evidentemente, à sua integridade e firmeza de caráter e à capacidade e vontade de querer ser justo.
No final, Lincoln consegue provar a inocência dos acusados, embora Ford habilmente deixe no ar a dúvida sobre se isso possa ser, em verdade, atribuído somente à perícia do primeiro. Remanesce, no entanto, a verdadeira essência de todo o sistema: o direito de todos a um julgamento justo.
Em livro que se tornou clássico (?Vigiar e punir ? História da violência nas prisões?), Michel Foucault, ao retratar a evolução do sistema penitenciário, detém-se particularmente no modo como a aplicação da sanção penal, que na Idade Média recaía sobre o próprio corpo do criminoso, saiu das ruas, das praças públicas, evoluindo para a concepção de um sistema de vigilância sobre a liberdade, a ser exercido internamente dentro dos presídios, subtraindo da sociedade a faculdade de observar o castigo imposto ao réu. O poder punitivo passou a existir, desse modo, na esfera restrita da ação do Estado, que, em nome da sociedade, mas longe desta, processa e julga, avalia o crime e aplica a pena.
Em boa hora o clássico filme nos relembra o perigo dos julgamentos pela multidão ? trial by newspaper. As acusações sem prova, a delação, o julgamento prévio e parcial, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa ? conquistas penosas da humanidade ? parecem estar a nos conduzir, no início do século XXI, a um retrocesso de pelo menos mil anos, mais precisamente aos tormentosos juízos populares da Idade Média. De fato, o mundo de informação total, em que tudo é exposto, em que todos nós acabamos por nos tornar espectadores em tempo integral não só dos acontecimentos mundiais, mas também da própria vida privada das celebridades não se satisfaz com o julgamento pela Justiça, em que se preserva o acusado de ser condenado antecipadamente.
Mas seria de perguntar: quando a maioria toma o direito nas próprias mãos, quase sempre não o retira das mãos da Justiça? Será necessário aparecer um novo Lincoln para nos dizer que, antes de enforcar, é preciso julgar? Muitos se arvoram em ocupar o lugar de ?justiceiros? no palco e no coração do povo que, infelizmente, está sendo levado a não acreditar no poder do Estado em aplicar a pena aos seus infratores.
Não é assim que se constrói e se mantém um estado de direito. É preciso encontrar um meio termo, em que a mídia e com ela a sociedade tenham acesso aos processos judiciais, mas ao mesmo tempo, preservando-se os direitos dos acusados, pois as conseqüências de uma maldosa e equivocada exposição pública podem ser irreparáveis. As reformas nas leis penais e processuais urgem, sob o risco de surgir e grassar o temor insidioso, o medo difuso, mas justificado, de ver todo o alicerce da democracia ruir como um castelo de cartas. [Mônica Sifuentes é juíza federal em Brasília]"