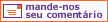TERROR & HORROR
"Isto não é Hollywood", copyright Folha de S. Paulo, 16/09/01
"Segunda, dez da noite. Chove torrencialmente em Nova York. Terça, 11 de setembro, oito da manhã. Sol, céu claro, uma luminosidade incomum. No café onde estamos perto da Washington Square, tudo parece correr normalmente. Até que se ouve a primeira sirene. E mais uma, e outras mais. Pessoas começam a sair a rua. Olham para o alto, paralisadas. Uma das torres do WTC está em chamas. As primeiras informações são desencontradas. Um acidente de avião, ou uma bomba.
Não vi o segundo choque. Ou melhor, vi através dos olhos incrédulos das pessoas à minha frente. Também não ouvi o ruído da explosão. Apenas os gritos parados no ar. Nove e meia. Centenas de pessoas ganham as calçadas. A partir daí, perde-se a noção do tempo. Cada segundo parece durar uma eternidade. Ninguém se move. Toda uma cidade olha gravemente para a mesma direção.
A imobilidade dos habitantes contrasta com o fluxo incessante de ambulâncias e carros de bombeiros. Algumas pessoas avançam a pé em direção aos prédios em chamas. Ainda não há barricadas. Abaixo da Canal Street, aumenta o fluxo contrário. Começa a evacuação da área atingida. E então, o ruído ensurdecedor da primeira torre que se desintegra, o turbilhão de pó que se abate sobre as pessoas, os gritos agônicos. Pegue as imagens da TV, e multiplique por dez. O caos.
Começa o êxodo em dire&ccedccedil;ão a ?uptown?. Carros de polícia continuam a mergulhar em sentido contrário. Ouço mais gritos. Duas mulheres negras choram, abraçadas. A segunda torre acaba de ruir. Na loja de aparelhos eletrônicos, as imagens já são repetidas em ?slow motion?.
Onze da manhã. Ecos da tragédia ainda são ouvidos ao longe. Nas ruas, pessoas fazem fila para falar nos telefones públicos. Os celulares não funcionam. Ninguém parece querer acreditar no que viu. O estupor estampado em cada rosto.
Meio-dia. As lojas começam a fechar. As ruas se esvaziam. Oito da noite. Só os restaurantes dos hotéis funcionam. Entro em um deles. Está apinhado de gente com os olhos grudados na TV. Entre eles, o ator Bruce Willis, com a aparência ainda mais catatônica do que os cinco homens a sua volta. Sintomaticamente, aquele que havia salvo prédios gigantescos em ?Duro de Matar? confrontava-se com uma nova evidência. A fragilidade dos EUA.
Um amigo inglês, diretor de cinema, me disse ter assistido ao ataque do WTC ao lado de outro ator americano, Harrison Ford. Mesma reação de incredulidade.
Hollywood se especializou em fazer da tragédia um espetáculo, mas também acostumou o público americano a acreditar que, em situações-limite, seria sempre salvo pelo gesto individual do herói. Dessa vez, não houve Indiana Jones que desse jeito. No Brasil, no ano passado, o sequestrador do ônibus 174 soltou aquele berro lancinante: ?Isto não é Hollywood?. A mesma coisa poderia ser dita das cenas vistas em 11 de setembro de 2001 . Naquele dia, os americanos confrontaram-se, horrorizados, com a realidade."
"Cinema é tratado como assunto estratégico", copyright Folha de S. Paulo, 16/09/01
"A expressão ?imperialismo cultural? está fora de uso, mas continua fazendo pleno sentido, pelo menos no que diz respeito à indústria audiovisual.
Os números são esmagadores: segundo dados da Comunidade Européia, 80% dos ingressos de cinema vendidos na Europa são de filmes norte-americanos. Na América Latina, a proporção é semelhante.
No ranking dos filmes mais vistos no mundo em todos os tempos, a produção não-americana mais bem colocada é o britânico ?Ou Tudo ou Nada? (1997), em 126? lugar. E é preciso descer até o 157? posto para encontrar um filme cuja língua não seja o inglês: o italiano ?A Vida É Bela? (1997).
Na música popular, outro terreno em que a indústria americana é muito forte, há uma contratendência em andamento.
De acordo com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), a participação dos repertórios locais no total de vendas de música (CDs, fitas cassetes, discos) subiu de 58%, em 1991, para 68%, no ano 2000.
Mas a música pop anglófona continua sendo a que mais se ouve no mundo. Ocupou, no ano passado, os dez primeiros lugares entre os discos mais vendidos.
Além disso, por mais que aumentem os repertórios locais, a veiculação segue cada vez mais concentrada. Calcula-se que 90% dos CDs vendidos na América Latina sejam de uma das cinco megaempresas multinacionais da música: BMG, EMI, Sony, Warner e Polygram.
Mas em nenhum terreno a hegemonia norte-americana é tão esmagadora quanto no da cultura audiovisual.
Embora possua o maior mercado interno do mundo, com nada menos que 38 mil telas (no Brasil, não chegam a 2.000), o cinema americano precisa do mercado externo para amortizar seus altos custos de produção e obter lucros. Precisa também dos mercados de vídeo, DVD e TV.
A saúde de Hollywood tem dependido cada vez mais das bilheterias obtidas no exterior (veja quadro). De acordo com Jack Valenti, presidente da Motion Pictures Association of America (MPAA), os filmes norte-americanos são exibidos em mais de 150 países. Os programas de TV americanos são transmitidos para 125 mercados.
Por isso o cinema é tratado como assunto estratégico nos EUA. A MPAA, instituição que representa os interesses da indústria cinematográfica como um todo, mantém representação na Casa Branca e escritórios em oito cidades do exterior, entre elas o Rio.
Num apelo ao Congresso dos EUA para que combata a pirataria, Valenti declarou orgulhosamente que as ?copyright industries? (cinema, TV, vídeo, música, publicações e software de computador) obtiveram ?saldo positivo de comércio com todos os países do mundo?, num ano (2000) em que o país teve um déficit de quase US$ 400 bilhões.
Pirataria e resistência
A pirataria, que causou perdas de US$ 4,5 bilhões à indústria fonográfica e de US$ 2,5 bilhões à do cinema, é uma das grandes preocupações dos produtores americanos. A outra é o protecionismo cultural adotado por vários países, em especial a França.
O Brasil, timidamente, entrou nessa briga. Na semana passada, o governo baixou medida provisória criando uma nova taxa sobre remessa ao exterior de lucros com a exibição de filmes estrangeiros no país.
O Brasil aderiu também ao recém-criado Instituto Internacional para a Cinematografia e o Audiovisual Latino, que se pretende um instrumento para a afirmação dos cinemas nacionais de países latinos da América e da Europa.
Mas foi a França que, até agora, conseguiu os melhores resultados na resistência à hegemonia americana, combinando mecanismos de reserva de mercado (tanto de salas de cinema como de programação de TV) com medidas de fomento à produção nacional.
Os franceses argumentam que é necessário proteger a identidade nacional e a diversidade cultural contra o avassalador poder da indústria americana. Os norte-americanos reagem brandindo a velha bandeira do livre mercado.
Pressão ou competência
Durante as negociações do Gatt (Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas), em que se discutia a taxação aduaneira dos chamados ?bens culturais?, a representante norte-americana, Carla Hills, disse a seus interlocutores da Comunidade Européia uma frase lapidar: ?Façam filmes tão bons quanto seus queijos e vocês os venderão?.
Ou seja, do ponto de vista de Hollywood, tudo se resume a uma questão de competência. Os filmes americanos rendem porque são bons, certo?
Errado, respondem os protecionistas. Os filmes americanos rendem porque contam com uma poderosa máquina de propaganda e marketing, além de meios econômicos de pressão, como o famigerado ?blindbooking?, que é a imposição de filmes e programas de menor interesse como condição para a venda dos mais procurados.
Um dado fornecido pela própria MPAA ressalta a importância do marketing no sucesso das produções americanas. No ano 2000, o custo médio de um filme de grande estúdio foi de US$ 54 milhões. Desse total, nada menos que US$ 24 milhões referem-se a gastos com publicidade.
Isso não significa que o argumento da competência americana seja inválido. Ninguém nega que Hollywood forjou ao longo das décadas um padrão de qualidade incomparável.
Não é só uma questão de dinheiro, mas de ?know-how? e criatividade, forjados ao longo de um século.
Ironicamente, grande parte da glória de Hollywood se deve ao talento de estrangeiros, como o inglês Hitchcock, o austríaco Fritz Lang, o italiano Frank Capra e tantos outros, tradição que continua hoje com o australiano Peter Weir, o holandês Paul Verhoeven, o chinês Ang Lee."
"Americanos sabem jogar com as paixões positivas", copyright Folha de S. Paulo, 16/09/01
"O diretor do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo e professor de política cultural da USP José Teixeira Coelho vê poucos focos de resistência no mundo à hegemonia da cultura industrial norte-americana.
Para ele, essa hegemonia não se deve apenas ao poder econômico dos Estados Unidos, mas à capacidade dos produtores norte-americanos de ?jogar com as paixões positivas? que atingem o grande público.
Teixeira, que é autor, entre outros livros, do ?Dicionário de Política Cultural?, falou à Folha sobre o assunto. (JGC)
Folha – A hegemonia da cultura norte-americana parece mais forte do que nunca. A chamada globalização da economia reforçou esse predomínio?
José Teixeira Coelho – Talvez tenha ocorrido também o contrário, ou seja, a hegemonia cultural norte-americana reforçou a globalização. É cada vez mais evidente que a cultura é um coadjuvante fortíssimo nesse processo.
A cultura norte-americana se transformou numa civilização, no sentido de um conjunto de valores que se apresenta como modelo a ser seguido. Mais ou menos como houve a civilização romana, a francesa etc.
Folha – Há reações significativas a essa tendência geral?
Teixeira – Existem dois tipos de reação. Uma delas é, digamos, legislativa, tendo como exemplo a batalha da França em defesa de seus bens culturais, sobretudo no que se refere ao cinema.
Outra forma de reação seria a propriamente estética, que a gente vê muito pouco hoje em dia, pelo menos na área audiovisual. Temos o cinema iraniano, o cinema do Sudeste Asiático, antípodas do cinema industrial americano, mas que têm pouca expressão em termos de mercado.
Já o cinema brasileiro, justamente com o objetivo de conquistar o mercado, tem buscado desde meados dos anos 70 padrões de narração e de produção do cinema americano. É uma adesão deliberada ao formato vencedor, tentando atuar dentro dele para passar suas mensagens.
Folha – O sr. falou em ?formato vencedor?. Essa vitória se deve apenas ao poder econômico da indústria americana?
Teixeira – A meu ver, há outro fator importante. A cultura da modernidade, que é de origem essencialmente européia e que alimenta ainda o chamado cinema de arte, é extremamente crítica, tendendo para o niilismo. Ela pôs de lado as paixões positivas, que sempre foram muito fortes na história da humanidade.
E o cinema americano joga com essas paixões, em histórias que sempre acabam bem. Isso cala fundo no público.
Folha – Costuma-se condenar o modelo norte-americano como responsável pela massificação da cultura, pela transformação da arte em mercadoria.
Teixeira – Essa questão tem de ser relativizada. Em primeiro lugar, a hegemonia cultural norte-americana só é indiscutível no que se refere à indústria audiovisual (cinema, vídeo, TV).
Em outras áreas, como a literatura e o teatro, nãatilde;o vejo a cultura americana como padrão.
Quanto à mercantilização da arte, me diga: quando é que a arte não foi mercadoria? Quando um pintor vendia um quadro ao papa, na Renascença, o que era isso?
Claro que, a partir do final do século 19, intensificou-se esse processo de mercantilização, com o surgimento dos meios de comunicação de massa. Mas foi também um processo de democratização do acesso à cultura.
No século 16, só um cardeal podia ter uma obra de arte em casa. Hoje, graças aos novos meios, muito mais gente tem acesso às várias formas de arte.
Folha – Hollywood, com suas parábolas nacionalistas e paranóicas, contribuiu para o clima de intolerância atual?
Teixeira – Certamente. Uma coisa para mim é clara: o cinema, assim como a TV, gera comportamentos a serem imitados.
Vale lembrar que o cinema americano reforçou a idéia do nazista alemão e do fascista japonês como encarnações do mal. Nas décadas seguintes, os vilões eram sempre comunistas, especialmente russos.
De uns dez anos para cá, os produtores têm insistido em terroristas árabes. Eles sabem que isso vai ter uma boa recepção, é o que o público quer ver. Mas reforça o preconceito já existente."