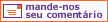TELEJORNALISMO
Paulo José Cunha (*)
Existem momentos em que a responsabilidade da imprensa adquire tal importância que chega a assumir o comando estratégico do processo histórico. Pois um desses momentos é agora, 10 dias após aquela manhã em que o fim do mundo começou a sair da ficção e a virar realidade ali, ao vivo e em cores muito nítidas, diante de nossos olhos, na tela da tevê. O foco da atenção já não está mais no fato estarrecedor. Deslocou-se para a mídia. Ela é a notícia porque tem o poder de intervir no imaginário. O meio, como queria Mc Luhan, agora é mesmo a mensagem. E por quê?
Fatos como o atentado terrorista nos Estados Unidos expressam sua própria importância, dispensam retoques. Como dizem os mexicanos, "los echos son los echos". O ataque foi de tal magnitude que se bastou. Uma jornalista de São Paulo me ligou para perguntar se achava que tinha havido sensacionalismo na transmissão da tragédia pela televisão. Respondi que isso não tinha a menor importância: a tragédia em si mesma foi tão brutal e repulsiva que qualquer tentativa de "esquentá-la", para usar um jargão das redações, teria sido perda de tempo. Até porque seria ridículo alguém colocar um palito de fósforo para ajudar a esquentar as labaredas do inferno em que aquilo lá se transformou. Se alguém o fez, não deu para perceber. Nem faria qualquer diferença.
Mas, agora, a situação é outra. É quando a responsabilidade dos meios de comunicação, com ênfase na televisão, cresce assustadoramente. É o momento em que aquele palito de fósforo pode representar a diferença entre a vida e a morte, entre o gênesis e o armagedom. Isso porque a imprensa já não está reportando os fatos tal como se impõem na sua cristalina essência, nus como vieram ao mundo. A partir de agora, os veículos passam a pautar a cobertura a partir dos informes das agências e sob o crivo da subjetividade de seus editores. Aí é onde mora o perigo.
As superpotências já descobriram o caráter simbólico das guerras. Elas não significam exclusivamente o que significam, como outrora. No mundo midiático, as guerras adquirem significado a partir da forma como são cobertas pela imprensa, cada vez mais ocupando o espaço de mediação entre a realidade e o imaginário, entre o factual e o ideológico, entre o que ocorreu e a opinião que se formou. É quando se torna fundamental para os governos "construir" a versão que desejam ser adotada como verdadeira. Para isso, todas as armas são lícitas, principalmente a manipulação. Depois que os Estados Unidos levaram a primeira rasteira no final da década de 60, durante a Guerra do Vietnã, quando a ampla liberdade de imprensa permitiu que os lares americanos fossem invadidos pelas explosões em que seus boys morriam diante de uma platéia estarrecida, precipitando o fim do conflito, a história mudou. Durante a Guerra do Golfo, na década de 90, a imprensa, ao contrário da liberdade com que atuou no Vietnã, foi tão bem controlada que o conflito pela televisão parecia mais um jogo de videogame. Agora, a cobertura do rescaldo do ataque terrorista tem todas as cores da tragédia, menos o vermelho do sangue.
O orgulho americano não permite a exibição dessas imagens. Onde os mortos? Alguém viu imagem ou foto de algum ferido?
Em compensação, proliferam as imagens de bandeiras americanas.
Pior ainda é o alinhamento incondicional à versão adotada pelas grandes redes internacionais que vocalizam a ideologia dominante e a distribuem mundo afora. No Brasil, as redes locais, com pouquíssimas exceções, seguem fielmente a cartilha oficial, repetindo bovinamente um esquema de cobertura de conflitos internacionais bastante conhecido. Na Guerra do Golfo, satã era Sadam Hussein; agora, é Osama bin Laden. Definido um inimigo, estamos conversados. Não há contestação, contraponto, contraditório. O discurso é o da mão única: do lado de cá, a verdade, do lado de lá, a mentira. O Bem mora aqui, lá mora o Mal. Mas, como lembra Frei Betto, é difícil identificar prontamente os Estados Unidos como o Bem. A história não permite…
Desafio para nossa mídia
Mas o maniqueísmo, açulado pela imprensa americana, transformou-se rapidamente em intolerância a ponto de o próprio presidente George Bush ter de ir a uma mesquita segurar a explosão de violência contra as comunidades islâmicas. Um indiano foi morto. Um brasileiro, espancado. Muçulmanos têm sido humilhados nas ruas. Na internet circulam fotos manipuladas identificando a figura do diabo na fumaça das torres gêmeas.
Se persistir a mesma linha de cobertura não é difícil que a intolerância se transforme em onda sem controle, conduzindo populações e governos a um "point of no return". Não há justificativa para a barbárie cometida pelos autores do ataque. A condenação do terror foi imediata, até de adversários históricos dos Estados Unidos, como Fidel Castro. Há sérios indícios de que a responsabilidade pelos acontecimentos é mesmo de Osama bin Laden, que merece caçada implacável e punição severíssima. O que não significa que a miopia da cobertura crie a impressão de que deva ser aberto um processo de canonização dos Estados Unidos e de satanização dos mais de 1 bilhão e 300 milhões de muçulmanos de toda parte (um quarto da humanidade).
A política externa de cunho nitidamente intervencionista do governo de Washington, bem como a manipulação das fichas no tabuleiro econômico do mundo com efeitos catastróficos para as populações dos países periféricos e dependentes não credenciam os americanos a encarnarem o Bem. A explosão de irracionalidade e bestialismo que se abateu sobre a nação americana tem a ver com esse passado e essas práticas. E é essa faceta que exige cobertura, análise, esclarecimento, confrontação de pontos de vista em contraposição ao paiol de pólvora que vem sendo montado a partir do discurso de mão única.
É até compreensível que a imprensa americana, movida pelo espírito de união nacional contra o inimigo externo, incentive o nacionalismo de sua população. O que não significa que a imprensa internacional ? inclusive a nossa ? reproduza o mesmo discurso, trazendo a exacerbação de ânimos para dentro do nosso quintal. É sintomático observar que os Estados Unidos não contam com a unanimidade do mundo ocidental no papel de xerifes do planeta. Uma razão a mais para que a própria mídia, sobretudo a nacional, diante do enorme desafio face à responsabilidade com que se defronta, não assuma nesta história o papel subalterno de ajudante de xerife.
(*) Jornalista, pesquisador, professor de telejornalismo. Dirige o Centro de Produção de Cinema e Televisão da Universidade de Brasília. Este artigo é parte do projeto acadêmico "Telejornalismo em Close", coluna semanal de análise de mídia distribuída por e-mail. Pedidos para <upj@persocom.com.br>