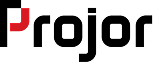(Foto: Marcos Felipe/ Pexels)
A palavra utopia já entrou no vocabulário do brasileiro médio. Neste artigo, vamos falar sobre sua irmã e antônima, a distopia.
Uma distopia é, em suma, uma utopia que deu errado, um lugar onde os sonhos morreram, em que a liberdade foi tolhida, em que poucos pisam em muitos.
Os exemplos mais comuns são os livros Admirável Novo Mundo, de Aldous Huxley, e 1984, de George Orwell (este último deu origem ao termo “big brother” de BBB e há uma crítica social oculta nesse fato). Leitores mais jovens também devem identificar obras como V de Vendetta e The Hunger Games.
O gênero cyberpunk é um exemplo primoroso de um cenário contrário, em que a democracia faliu e os governos ou deixaram de existir ou se tornaram marionetes. É o que acontece em Neuromancer, o clássico de William Gibson.
Feito esse preâmbulo, convém responder a uma pergunta que implora para ser respondida: o que isso tem a ver com o mundo atual?
A ficção explica a política
Grosso modo, a luta eterna entre a direita e a esquerda pode ser resumida a um único fator: o tamanho do Estado. O primeiro grupo defende uma intervenção mínima ou mesmo a abolição das burocracias, que consideram um empecilho para o que chamam de “desenvolvimento tecnológico”.
Já o último acredita que um Estado forte é imperativo para o desenvolvimento da sociedade. Já estamos habituados a saber o que acontece nos cenários apocalípticos, reais ou não, em que este grupo vence a guerra.
O que ninguém fala é no verdadeiro impacto que a falência do governo traria para a sociedade. Um dos fatores importantes é entender o Estado como o último escudo contra o domínio completo da lógica capitalista nas relações sociais.
Um governo é responsável pela criação de políticas públicas que, ao menos em tese, protegem a população de efeitos nocivos das ideias mais recentes de nossos luminários tecnológicos.
Por exemplo, vimos como a União Europeia implementou regras rígidas para limitar o uso de dados por big techs e a responsabilização destas empresas em casos de abusos via redes sociais.
Pouco depois, Google, Meta, X (ex-Twitter) e amiguinhos começaram uma campanha de desmoralização contra o PL 2630/20, que trata da transparência das redes sociais. Elas sabem que precisam impedir a onda que começou na Europa antes que ela atinja o resto do mundo e limite o alcance de suas ações.
Nós sabemos que a praça pública, na era da internet, foi privatizada por essas empresas na forma de redes sociais. Circula nesses ambientes grande parte dos dados gerados hoje em dia, algo que, para essas empresas, é uma fonte de dinheiro.
É por isso que a eleição de Donald Trump fez com que estas empresas se prostrassem perante o novo presidente dos EUA antes mesmo de sua posse. Sua plataforma, em resumo, é jogar no lixo toda a regulamentação e transformar o mercado em uma terra sem lei na qual big techs podem fazer o que quiser sem repercussões.
A corrosão começa por dentro
Não há exemplo melhor para isso do que o grupo DOGE (Departamento de Eficiência do Governo) de Elon Musk. O grupo é um órgão privado que recebeu acesso do governo Trump para analisar e destruir todas as áreas do governo que considerarem um empecilho para seus planos.
Oficialmente, o grupo procura pontos em que há gastos excessivos e desnecessários do governo com o objetivo de aumentar sua eficiência. Ao mesmo tempo, várias pessoas que têm ligações com Musk ocupam altos cargos em agências oficiais.
A separação do público e privado costumava ser uma diretriz importante na democracia. O discurso da demonização do Estado, entretanto, criou um falso inimigo que precisa ser combatido pelos iluminados do mercado.
Esse processo não começou do nada, muito menos na política. Nós estamos vendo há anos como o discurso extremista, no Brasil, começou a cavar seu espaço lentamente nas redes sociais, até atingir um ponto de ebulição que lhe permitiu conquistar uma eleição presidencial.
De agressão a agressão, essas ideias se normalizaram em parte da população até que as pessoas por trás delas pudessem expressá-las em público sem medo de repercussão. O que era nefasto, assim, tornou-se comum.
A boa notícia é que a destruição da democracia não vai acontecer da noite para o dia. Ela é um processo demorado e há forças lutando contra este tipo de ação.
A má notícia é que não se fala mais em impedir que alguém tente algo nesse sentido: a infiltração do totalitarismo começou há anos. Ela ocupou a mente dos eleitores antes de infiltrar as estruturas de governo.
A ação das big techs contra redes sociais não foi meramente uma questão econômica, elas sabiam que o controle começa através da comunicação.
Em poucas palavras, a corrosão já começou e precisa ser impedida. Não podemos nos esquecer de que essa é apenas a vanguarda do atraso.
O que vem depois é muito pior.
***
Júlia V. Kurtz é jornalista especializada em tecnologia. Já escreveu para a Globo, Gazeta do Povo e Portal UOL.