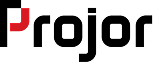(Foto: PublicDomainPictures/Pixabay)
A ciência, quando verdadeiramente compreendida, raramente é simples ou imediata. Ela se constrói em um terreno movediço de incertezas, revisões, ajustes e acumulação progressiva de evidências. No entanto, em nossa sede por narrativas claras e extraordinárias, muitas vezes convertemos nuances em absolutos, ambiguidades em milagres. Poucos campos exemplificam tão bem essa tensão entre a complexidade dos fatos e o desejo por espetáculos quanto a biotecnologia.
Em abril de 2025, uma enxurrada de manchetes anunciou com entusiasmo o retorno de uma criatura ancestral: o lobo-terrível (Aenocyon dirus), extinto há cerca de 10 mil anos. Não tardou para que três filhotes geneticamente editados fossem apresentados ao mundo com nomes estrategicamente escolhidos para evocar mitos fundadores e fantasias contemporâneas: Rômulo, Remo e Khaleesi. O noticiário os descreveu como verdadeiros ressuscitados, frutos de uma biotecnologia que, para muitos leitores, soava quase indistinguível de necromancia científica.
Contudo, quando analisamos o caso com o olhar paciente da ciência e o distanciamento crítico do historiador natural, percebemos algo menos espetacular e mais humano: um exemplo clássico de como narrativas sedutoras podem obscurecer os limites do conhecimento.
O lobo-terrível não era um lobo qualquer. Estudos genômicos recentes revelaram que ele divergiu dos lobos modernos há mais de 5 milhões de anos, pertencendo a um gênero próprio, com história evolutiva distinta e traços comportamentais que provavelmente jamais conheceremos em detalhe. Dizer que três filhotes, gerados a partir de lobos-cinzentos com edições genéticas pontuais, são “lobos-terríveis” é, no mínimo, um abuso semântico.
Ainda assim, a narrativa pegou. E por que não pegaria? Ela oferece uma história instigante, que mistura drama evolutivo, avanço tecnológico e redenção humana frente às espécies que deixamos desaparecer. Ela ecoa uma promessa implícita de que nossos erros podem ser revertidos com engenhosidade e capital. No entanto, a realidade nos convoca a outro tipo de reflexão: a de que muitas vezes a ciência não anda lado a lado com a sua representação midiática.
A edição genética aplicada neste caso, por mais impressionante que seja, consistiu em poucas intervenções sobre um genoma de lobo moderno. As alterações realizadas não restauram um organismo extinto, mas sim aproximam morfologicamente uma nova criação de um fenótipo passado. É um pouco como tentar reconstruir um castelo medieval usando apenas concreto e memórias vagas dos alicerces.
O desejo de maravilhamento, o clássico caso do boimate e outros casos midiáticos
Nossa tendência a aceitar relatos fantásticos sobre a ciência não é nova. Em 1983, a revista VEJA publicou um artigo sobre a criação de uma fruta que misturava boi e tomate. Segundo a reportagem, cientistas alemães teriam conseguido combinar células animais e vegetais em um mesmo organismo, dando origem ao “boimate”: uma planta que produzia frutos com tecido muscular bovino entremeado com polpa de tomate. A reportagem se baseava em uma peça satírica da New Scientist, publicada em 1º de abril daquele ano. Mas a brincadeira, longe de ser reconhecida como tal, foi reproduzida como fato.
O caso do boimate tornou-se um marco no jornalismo científico brasileiro não apenas pela gafe editorial, mas porque escancarou nossa vulnerabilidade diante de narrativas extraordinárias. Quando se trata de biotecnologia, a língua tende a tropeçar nos limites entre o possível e o plausível.
Nos anos 1990, com a introdução dos alimentos geneticamente modificados, surgiu o termo “frankenfoods”. A expressão, carregada de medo e repulsa, associava os OGMs à figura monstruosa do Frankenstein. A imagem de tomates com dentes, espigas de milho com olhos, povoou infográficos e capas de revistas.
Esse tipo de representação teve consequências reais. Políticas públicas foram formuladas sob pressão do medo, não da evidência. Agricultores deixaram de adotar tecnologias que poderiam reduzir o uso de agrotóxicos. O público passou a desconfiar de toda e qualquer intervenção humana na produção de alimentos, como se a agricultura não fosse, desde o seu nascimento, um imenso experimento de seleção artificial.
Vinte anos depois do caso do boimate, a empresa Clonaid, ligada à seita raeliana, afirmou ter clonado o primeiro ser humano. A notícia correu o mundo, gerando fascínio e medo. Nenhuma prova foi apresentada. Nenhum exame de DNA. Nenhuma verificação por terceiros. Ainda assim, o anúncio recebeu cobertura séria de diversos meios de comunicação, como se a afirmação, por si só, tivesse valor equivalente à evidência.
O fato de uma seita ufológica usar jargão científico para reforçar suas crenças apócrifas sobre a origem extraterrestre da vida deveria ter servido de alerta. Em vez disso, fomos guiados mais uma vez pela promessa do inacreditável tornado possível. A ciência como ferramenta de maravilhamento pode, ironicamente, se tornar vítima do encantamento que produz.
Mais recentemente, a técnica de edição genética CRISPR gerou tanto entusiasmo quanto temor. Quando, em 2018, um cientista chinês anunciou o nascimento das primeiras crianças com genes editados, o mundo reagiu com choque. Em poucos dias, os meios de comunicação alternaram-se entre elogios à ousadia e acusações de imprudência ética. O fato é que a edição genética em embriões humanos levanta questões profundas, mas o debate foi muitas vezes substituído por manchetes que evocavam filmes distópicos e cenários de bebês sob medida.
O que todos esses casos têm em comum é a disposição da mídia em transformar o complexo em consumível, o provisório em definitivo, o plausível em real. O desejo por narrativas claras, heróis e vilões, descobertas revolucionárias e perigos iminentes é compreensível. É uma herança de nossa forma mitológica de entender o mundo. Mas é também uma armadilha.
A ciência não se comunica por epifanias midiáticas. Ela avança por tentativas, correções, dissensões. Reduzi-la a manchetes com promessas absolutas não apenas empobrece o debate, como compromete a própria confiança do público nas instituições de pesquisa. Afinal, quem promete milagres com regularidade logo se torna alvo de descrença.
O papel da imprensa: informar ou entreter?
A imprensa não é apenas uma transmissora de informações. É uma mediadora de sentidos. Quando comunica ciência, precisa assumir uma posição de responsabilidade redobrada: resistir à tentação do espetáculo, checar dados com especialistas, contextualizar descobertas, explicar limites.
Veículos que embarcam em promessas não comprovadas ou mitificações tecnológicas correm o risco de enfraquecer o papel do jornalismo como aliado da verdade. Mais que informar, o bom jornalismo científico deve cultivar o espírito crítico, não a credulidade acrítica.
Os casos aqui discutidos não são apenas anedotas curiosas. São sintomas de um ecossistema midiático que, por vezes, sacrifica a compreensão profunda em nome do engajamento rápido. Ao fazer isso, transforma a ciência em palco de espetáculo, em vez de ferramenta de compreensão do mundo.
A biotecnologia é um campo de imenso potencial e também de riscos reais. Não precisamos fantasiar para nos maravilharmos com ela. Basta compreendê-la com honestidade, humildade e uma boa dose de ceticismo. O verdadeiro encantamento reside naquilo que, apesar de sua complexidade, pode ser explicado e discutido publicamente com clareza.
Se há algo que o caso do boimate e do lobo-terrível nos ensinam, é que o jornalismo deve aprender a reconhecer a diferença entre a linguagem da ciência e o idioma da fábula. E, sempre que possível, optar pela primeira.
***
Fabiano B. Menegidio é doutor em Biotecnologia e atua como pesquisador na área de Bioinformática. Professor universitário, desenvolve estudos interdisciplinares envolvendo genômica, metagenômica e ciência de dados. Coordena projetos em biotecnologia e engenharia biomédica com enfoque em inovação científica.