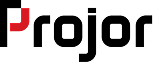(Foto: Andrys Stienstra por Pixabay)
Mais do que uma crise de credibilidade, enfrentamos uma crise de credulidade no jornalismo: essa é a percepção de Jelani Cobb, reitor da Columbia Journalism School e conferencista da 2025 Reuters Memorial Lecture, realizada há duas semanas na Oxford University, na Inglaterra. Em sua fala, Cobb trata de temas que não são novos para quem observa o jornalismo, mas que vêm sendo inescapáveis em tempos recentes: a erosão da confiança do público nas instituições, a importância do jornalismo para uma sociedade mais democrática e, tratando mais especificamente do cenário estadunidense, o caminho que algumas organizações jornalísticas estão seguindo nos primeiros meses do retorno de Donald Trump à presidência do país.
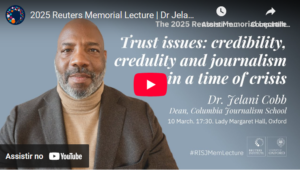
Palestra de Jelani Cobb na 2025 Reuters Memorial Lecture na íntegra. A transcrição da conferência está disponível em inglês e também em tradução para o espanhol.
Quando aborda o papel do jornalismo para uma sociedade mais democrática e melhor informada, o reitor faz uma referência a Maquiavel, que afirma que aqueles que buscam o poder precisam de uma dose de força e de fraude – no entanto, acrescenta que o jornalismo precisa de “um terceiro F”: fé. É curioso falar de fé e de jornalismo ao mesmo tempo. Não deveria o jornalismo, supostamente, ser imparcial, calcado na objetividade, ir direto aos fatos? Essa é uma percepção bastante disseminada e que norteia como muitas pessoas escolhem consumir uma determinada mídia em vez de outra, e também a confiarem ou desconfiarem de um veículo jornalístico, de um jornalista, de uma notícia.
Katherine Hawley, em seu livro Trust: A very short introduction (2012), posiciona a confiança como um componente essencial para o estabelecimento de relações sociais, mas sua origem não é de todo racional:
“(…) frequentemente, nós simplesmente nos vemos confiando em uma pessoa e desconfiando de outra, sem ter feito uma escolha consciente a respeito. (…) Nesse aspecto, confiança e desconfiança são como crença e descrença. Mesmo que tentemos basear nossas crenças na evidência – como deveríamos –, esse não é necessariamente um processo de consideração das evidências (…).” (Hawley, 2012, p. 9-10).
Cobb, por sua vez, fala de fé, um atributo que muitas vezes é considerado irracional. Para o reitor, contudo, a fé que ele evoca não é uma fé religiosa, e sim uma crença nas instituições e na racionalidade das pessoas que se baseia em mecanismos que permitem verificar as estruturas que organizam as sociedades que se propõem democráticas – entre elas, o jornalismo.
Mas, do que falamos de fato quando falamos de jornalismo? Participei recentemente de um encontro promovido por um grupo de estudos que integro com Scott Eldridge II, pesquisador e professor da Universidade de Groningen, na Holanda, e autor do livro Journalism in a fractured world (2025). A leitura de sua obra me suscitou exatamente essa pergunta, que ficou ecoando na minha mente enquanto lia o discurso do reitor Cobb. Sim, é fato que as pessoas estão menos crédulas nas instituições, e inúmeras pesquisas mostram que não é só o jornalismo que sofre com isso; porém, o que o jornalismo efetivamente faz para recuperar essa confiança que se presume perdida?
Em comentário publicado aqui neste mesmo site, a colega Juliana Rosas recuperou uma fala do coordenador do Programa de Pós-graduação em Jornalismo da UFSC, professor Carlos Locatelli, no seminário organizado pelo objETHOS no ano passado:
“Talvez nós devêssemos mudar o nome do nosso programa para ‘Programa de Pós-graduação em Crítica de Mídia’. Todos nós que pesquisamos, todos os nossos trabalhos do curso de pós-graduação em Jornalismo são de crítica de mídia. Não há trabalhos funcionalistas, não há quase ninguém pesquisando como aperfeiçoar o Jornalismo. (…) Porque esse jornalismo hegemônico é refratário. Refratário à ciência, ao trabalho acadêmico, é refratário por conta do oligopólio.”
Essa fala vai ao encontro de algo em que me pego pensando vez ou outra, e que já ouvi de muitos colegas jornalistas que atuam em redações, mas estão distantes da academia: que a pesquisa não é capaz de acompanhar o mercado, e que a pesquisa opera, muitas vezes, como uma câmara de eco, isolada do mundo lá fora, esperando que, por meio da crítica que se faz, se alcance uma espécie de “jornalismo ideal”, o jornalismo que deveria ser. Não sei o quanto disso é verdade, e talvez não seja possível mensurar; e também não penso que devemos nos contentar com o jornalismo que é – ele tem muitas falhas, por vezes em dimensões éticas, que devem ser apontadas e criticadas.
A obra de Eldridge, Journalism in a fractured world, posiciona o jornalismo como produto de um contexto social, no qual discursos ideológicos e de poder se afirmam por meio da linguagem utilizada nas notícias. A linguagem não é neutra, e nem deve ser encarada como tal; mas o autor lembra bem que essa mesma linguagem, o discurso jornalístico e a forma como ele é construído, contribui para o modo como o jornalismo é percebido por seus públicos:
Os discursos noticiosos podem elevar os jornalistas como vozes poderosas a serviço do público, às vezes de forma explícita e, outras vezes, de forma implícita. Quando os jornalistas são retratados em um trabalho que “protege” a sociedade ou serve à democracia, o status do jornalismo é elevado, de forma positiva. No entanto, as notícias também podem denominar os jornalistas como elites fora de contato, que estão mantendo “o povo” no poder de forma corrupta e deixando de atender às necessidades de uma sociedade democrática. (Eldridge, 2025, p. 83, tradução minha, grifo do autor)
A palestra de Jelani Cobb pontua bem essa dicotomia, usando como exemplo o início da pandemia de Covid-19. O papel do jornalismo foi imensamente evidenciado naquele momento, com coberturas de excelência em um momento de crise sanitária, ausência de informações e, ao mesmo tempo, infodemia, como cunhou a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, tivemos um movimento inédito de união dos atores midiáticos por meio do consórcio formado entre O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S. Paulo e UOL, que atuaram em conjunto de junho de 2020 a janeiro de 2023, em uma tentativa de agir em meio à restrição de dados sobre casos e óbitos decorrentes da Covid-19 imposto pelo Ministério da Saúde. Porém, ao mesmo tempo, a pandemia foi um momento em que a desinformação circulou amplamente e que reforçou a incredulidade de grupos sociais que já não se viam representados ou contemplados pela mídia (especialmente a hegemônica).
O contexto de polarização ideológica que se instalou ao longo da última década contribui para que as posições sejam mais radicais; em A morte da verdade (2018), Michiko Kakutani já apontava o “desaparecimento da realidade”, ou seja, a quebra de um plano comum do qual a sociedade pode partir. Onde fica o jornalismo?
“(…) Eventos na sociedade moldam cada uma das nossas compreensões sobre jornalismo, assim como o jornalismo transmite para cada um de nós uma imagem do que a sociedade é” (Eldridge, 2025, p. 89, tradução minha). Antes tido como uma instituição tão consolidada nas sociedades democráticas – percebido como um quarto poder, como um cão de guarda –, sua imagem se despedaça quando pontos de vista que não são apenas dissidentes, mas antidemocráticos, se espalham e se infiltram em diversos espaços e grupos sociais. E, quando o jornalismo deixa de ter o interesse público como centro de sua atuação, passando a atender a interesses privados ou a dedicar mais tempo e dinheiro ao que é de interesse do público, buscando aumentar acessos, cliques e tempo de leitura, ele mesmo contribui para desconstruir a imagem que lhe servia de sustentação.
São muitas perguntas e poucas respostas, com tantas vozes distintas trazendo problemas e eventuais propostas de soluções. Há muito tempo se fala em crise; não seria, porventura, esse o perpétuo estado do jornalismo, um fenômeno em constante movimento e transformação? Talvez os desafios do nosso tempo – as redes sociais, a desinformação, a inteligência artificial, a busca incansável por cliques e tantos outros – estejam nos sufocando e impedindo que se pense um jornalismo que opera em outros moldes, que não atende às exigências das plataformas, que se conecta com suas comunidades por outras vias. Ao tentarmos nos adequar ao cenário vigente, pode ser que estejamos perdendo a essência do jornalismo e, consequentemente, a disposição das pessoas de se manterem crédulas e de confiarem nesta instituição.
Texto publicado originalmente em objHETOS.
***
Natália Huf é doutorada no Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC e pesquisadora do objETHOS