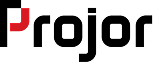(Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)
O Ministério da Saúde, ao longo de seus 35 anos de atuação no âmbito do SUS, mantém estratégias anacrônicas de comunicação, pouco adaptadas às transformações sociais, tecnológicas e ambientais. Essa postura tem repercussões diretas na relação entre serviços de saúde e usuários, especialmente em tempos de crises, em destaque, a emergência climática.
Dentre os desafios, narrativas e pautas mais recentes e urgentes, destacam-se os efeitos das queimadas no Brasil, cuja gravidade se evidencia na região Norte e se espalha para outras áreas do país. A fumaça tóxica e a destruição ambiental não apenas agravam as condições de saúde preexistentes, mas também sobrecarregam os serviços do SUS. Essa situação expõe a falta de políticas eficazes de comunicação pública para prevenir agravos e orientar a população em crises de saúde.
A lacuna histórica da comunicação no SUS
A comunicação social tem sido negligenciada no planejamento das políticas públicas de saúde, permanecendo restrita a campanhas pontuais, como vacinação e prevenção de doenças. Essas iniciativas, muitas vezes desenhadas sob uma lógica publicitária, carecem de avaliação e reflexão teórica, além de se distanciar dos princípios constitucionais do SUS, como descentralização, regionalização e participação dos usuários.
A prática de comunicação do SUS frequentemente se resume à promoção institucional ou à gestão de crises, sem um planejamento consistente e integrado. Essa abordagem perpetua a desinformação e contribui para a baixa adesão às campanhas de saúde, como a vacinação, que sofreu uma queda alarmante, exacerbada pelo discurso antivacina durante a pandemia de Covid-19.
Os desafios impostos pelas crises climáticas
As queimadas e a crise climática representam uma nova camada de complexidade para a saúde pública no Brasil. A liberação de partículas ultrafinas pelas queimadas, por exemplo, causa danos severos à saúde, especialmente em populações rurais e vulneráveis. Essas comunidades, no entanto, têm acesso limitado a informações claras e acessíveis sobre como proteger sua saúde diante dessas condições.
Faltam estratégias de comunicação de risco, recomendadas pela OMS para situações de emergência. Treinar equipes multidisciplinares para produzir e disseminar informações adaptadas às peculiaridades regionais é um passo essencial. Sem essas medidas, o SUS continuará sobrecarregado e ineficaz em tempos de crise.
Repensando a comunicação no SUS
Para superar as lacunas atuais, é necessário desenvolver uma política de comunicação social fundamentada nos princípios do SUS. Essa política deve ser descentralizada, regionalizada e adaptada às necessidades de cada região, garantindo transparência e credibilidade na troca de informações com a população. Além disso, deve ser respaldada por um planejamento rigoroso, monitoramento constante e avaliação de impacto.
A tecnologia oferece novas oportunidades para comunicação, como as redes sociais, que permitem uma disseminação mais ampla e rápida de informações. No entanto, essas ferramentas não podem ser as únicas opções, já que grande parte da população que depende do SUS não tem acesso à internet. É crucial combinar mídias tradicionais e digitais para alcançar todos os públicos.
Integração entre comunicar e educar
A comunicação deve se alinhar com ações educativas para promover mudanças duradouras. A integração entre comunicação e educação em saúde pode potencializar os resultados, criando um ambiente em que a população compreenda e participe ativamente das ações de saúde pública. Essa abordagem exige equipes capacitadas e uma estrutura organizacional sólida, que não dependa das mudanças constantes de governo.
Construindo o futuro da comunicação no SUS
O Ministério da Saúde tem a responsabilidade de coordenar uma nova política de comunicação, articulando estados e municípios e promovendo campanhas regionais baseadas nas características e necessidades locais. Essa mudança exige a redefinição do papel do Ministério, que deve atuar como articulador e gestor, priorizando a saúde como direito e a informação como ferramenta fundamental para o bem-estar coletivo.
Em tempos de crise climática e emergências de saúde, a informação pública é uma ferramenta estratégica. Investir em comunicação eficaz é não apenas uma necessidade, mas uma obrigação do Estado para proteger a saúde e a vida da população brasileira. Assim, o SUS pode finalmente cumprir sua promessa constitucional de ser universal, integral e equitativo.
Comunicação comunitária
A comunicação comunitária tem um papel crucial no fortalecimento do SUS ao possibilitar maior proximidade entre os serviços de saúde e as populações atendidas em diferentes territórios. Essa abordagem favorece a descentralização da informação, amplia o alcance de mensagens relevantes e cria uma via de mão dupla entre gestores, profissionais de saúde e usuários:
Em um país diverso como o Brasil, a comunicação comunitária permite a criação de materiais e estratégias adequadas às características de cada região, garantindo que a mensagem seja compreendida e acolhida pelas comunidades. Em áreas rurais ou indígenas, por exemplo, é possível adaptar campanhas para respeitar valores e tradições locais, utilizando linguagens acessíveis, com valorização de trabalhadores de saúde de origem campesina e indígena.
A comunicação comunitária incentiva a participação ativa da população na gestão e monitoramento dos serviços de saúde, promovendo o controle social e o fortalecimento dos Conselhos de Saúde. Envolver lideranças comunitárias, associações e usuários na construção de campanhas e materiais educativos aumenta a legitimidade e a eficácia das ações. O uso de rádios e jornais comunitários são essenciais em áreas remotas ou com acesso limitado à internet, permitindo a disseminação de informações sobre vacinação, prevenção de doenças e serviços disponíveis no SUS. Ferramentas como grupos de apps de mensagens e redes sociais regionais podem ser usadas para alcançar comunidades específicas, mantendo a proximidade e o diálogo constante.
Em situações como queimadas, enchentes ou pandemias, a comunicação comunitária permite informar rapidamente sobre riscos à saúde e orientações preventivas, reduzindo danos à população. Redes comunitárias podem ser ativadas para organizar ações de apoio, como distribuição de máscaras, água ou vacinas, e facilitar o acesso a serviços de saúde.
Esses projetos podem incluir oficinas, palestras e materiais informativos, promovendo a conscientização sobre temas como saneamento básico, nutrição, saúde mental, envelhecimento ativo, questões de gênero, prevenção de violência, entre outros. Parcerias com escolas e outras instituições locais ajudam a incorporar práticas de saúde preventiva no dia a dia das comunidades. Pode identificar e destacar, também, demandas específicas de saúde, pressionando os gestores por políticas públicas que atendam às populações vulneráveis. Ao mediar essa relação, os comunicadores comunitários ajudam a reduzir a desconfiança e a promover uma relação mais transparente e eficiente. Possibilidades reais:
- Em áreas indígenas, materiais traduzidos para línguas locais e transmitidos por rádios comunitárias aumentam a adesão a programas de vacinação.
- Nas periferias urbanas, coletivos culturais e influenciadores comunitários podem atuar como multiplicadores de informações sobre prevenção de doenças e acesso ao SUS.
A comunicação comunitária, ao integrar saberes locais com práticas institucionais, fortalece os princípios constitucionais do SUS: universalidade, equidade e integralidade. Ela não só melhora a eficiência das campanhas de saúde, mas também promove a cidadania e o empoderamento, tornando o sistema mais próximo e funcional para a população, independentemente do território onde vivem.
Uma comunicação adequada na política nacional de saúde integral da população negra
A comunicação deve desempenhar um papel ainda mais estratégico em comunidades quilombolas, alinhando-se à Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) e aos princípios do SUS. Essa política reconhece as especificidades de saúde das populações negras, incluindo os quilombolas, considerando os determinantes sociais que afetam de maneira desigual essas comunidades. Dentro da realidade quilombola, é possível trabalhar no resgate e na valorização cultural com a produção de materiais educativos e campanhas que respeitem e integrem os saberes ancestrais, práticas de cuidado e idiomas próprios das comunidades quilombolas. Adaptação de mensagens às condições específicas, como acesso limitado a serviços de saúde, água potável ou transporte, destacando a importância da equidade nas ações.
Contribui também no fortalecimento da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, dialogando com os serviços de saúde a fim de facilitar o entendimento sobre a política entre profissionais de saúde que atendem comunidades quilombolas, criando materiais explicativos para capacitação e sensibilização. Utilizar a comunicação para denunciar práticas discriminatórias e promover a humanização no atendimento, sensibilizando tanto gestores quanto profissionais. Ações de prevenção de agravos relacionados às condições de vida com campanhas comunitárias sobre saneamento, acesso à água potável e combate às endemias adaptadas ao contexto local.
É necessário incorporar as narrativas quilombolas no conteúdo audiovisual através de histórias que reflitam a vivência e a resistência das comunidades, promovendo saúde mental e pertencimento.
A comunicação comunitária pode reforçar a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, garantindo que os direitos previstos se tornem realidade nos territórios quilombolas. Com uma abordagem participativa e respeitosa, ela pode contribuir para a redução das desigualdades em saúde, fortalecer a autonomia das comunidades e promover a equidade, um dos pilares fundamentais do SUS.
Referências
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br.
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br.
FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
LIMA, Ana Carolina Souza de; BRITO, Jardel; SANTOS, Rita de Cássia Dias dos. Saúde em Comunidades Quilombolas: Reflexões sobre o Papel do SUS e da Participação Social.
Revista de Políticas Públicas, v. 23, n. 1, 2019. DOI: 10.18764/2178-2865.v23n1p125-140.
NASCIMENTO, Abdias. O Genocídio do Negro Brasileiro. São Paulo: Perspectiva, 2016.
SOUSA, Maria de Lourdes de; SANTOS, Sidney; TAVARES, Eliane. Comunicação Comunitária e Saúde: Caminhos para a Inclusão Social. Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, v. 31, n. 1, 2008. Disponível em: https://www.portalintercom.org.br.
VILAR, Márcia Ribeiro; SILVA, Maria Lígia. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e os Desafios na Implementação em Comunidades Quilombolas. Saúde e Sociedade, v. 23, n. 4, 2014. Disponível em: https://www.scielo.br.
FIAN Brasil. Relatório da Plataforma Dhesca sobre o Direito Humano à Saúde em Comunidades Quilombolas. Brasília, 2020. Disponível em: https://fianbrasil.org.br.
IBGE. Povos Tradicionais e Quilombolas: Censo Demográfico e Saúde. Brasília: IBGE, 2010. Disponível em: https://www.ibge.gov.br.
***
Richardson Nicola Pontone é comunicador social, professor e documentarista. Docente da Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Divinópolis para os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda.