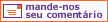COBERTURA DO TERROR
"O terror longe daqui, aqui mesmo", copyright O Globo, 19/09/01
"Assim como o Gugu Liberato, a Luiza Brunet e a Mel Lisboa, eu também já tinha ido ao World Trade Center. Ao contrário do Gugu, porém, não gravei em vídeo meu passeio pelas torres gêmeas. Ao contrário de Luiza, não experimentei o melhor hambúrguer do mundo. E, ao contrário de Mel Lisboa, não comprei DVD por lá. Na verdade, nem tenho muita certeza se subi a Torre Norte ou a Torre Sul. Mas que estive lá, estive. Penso nisso, após a tragédia de terça-feira da semana passada, porque, desde então, uma pergunta me sobressalta. Como alguém pode se sentir seguro no 105 andar de qualquer edifício? Foi isso o que mais me impressionou nos depoimentos de alguns sobreviventes do ataque terrorista. Teve gente que conseguiu escapar do inferno na torre descendo as escadas. Mas a fuga demorou uma hora e meia! Uma hora e meia! Independentemente de um avião chocar-se contra um prédio, como pode ser seguro um edifício em que, se não puderem ser utilizados os elevadores, demora-se uma hora e meia para se sair dele? Nas muitas enquetes que os sites jornalísticos costumam fazer na internet, há uma pergunta recorrente: o World Trade Center deve ser reconstruído ou o local deve ser transformado num memorial para as vítimas? Sempre dá a reconstrução na cabeça. Por quê? Mesmo que um novo atentado não ocorra no prédio reconstruído, como alguém pode se sentir bem no 105 andar?
Para quem não teve a chance de conhecer o World Trade Center, como Gugu, Brunet, Mel e este locutor que vos fala, a internet oferece a oportunidade de passear pelas torres gêmeas, antes da destruição. O site da revista ?New York? (www.newyork.com) proporciona uma viagem virtual das mais bem-feitas.
No hit parade da tragédia, só dá ?God bless America?. Até na reabertura da Bolsa de Nova York apareceu uma voz lírica para entoar aquele que muita gente pensa ser o hino dos Estados Unidos. Não é. ?God bless America? foi composta, durante a Primeira Guerra Mundial, há 83 anos, por Irving Berlin (1888-1989) para uma revista do tipo das de Ziegfeld. No entanto, Berlin considerou o tom da canção muito solene para um musical humorístico e decidiu retirá-la do repertório. Vinte anos depois, com o país de novo em guerra, ele reescreveu a canção. Ela foi interpretada pela primeira vez pela cantora Kate Smith durante uma transmissão radiofônica no Dia do Armistício. Foi um sucesso instantâneo. Berlin criou um Fundo God Bless America, doando os direitos autorais para os escoteiros do país. De lá para cá, a música tornou-se uma espécie de hino não-oficial do país e é a preferida nas festas de comemoração do 4 de Julho, o Dia da Independência. Com o recente ataque terrorista, se havia alguém no mundo que não a conhecia, não há mais. Ironicamente, a música que mais representa a alma americana foi composta por um imigrante russo.
Eu sei que é difícil acreditar, mas deu no ?Hollywood Reporter?. Vai ao ar, atualmente, na TV americana, o finzinho da temporada de ?Big brother?, um dos muitos realities shows criados nos últimos anos. ?Big brother? parte da premissa de reunir numa casa 12 participantes. Eles têm que viver sem ouvir rádio, ver televisão, ler jornal, conectar-se à internet ou falar ao telefone. Com câmeras e microfones espalhados pela casa, a TV registra a convivência entre os candidatos a alguns milhares de dólares. A cada semana, o grupo escolhe um concorrente para ser eliminado e sair de casa. No momento, só restam três candidatos ao prêmio. Após os atentados da terça-feira da semana passada, os produtores do programa ficaram na dúvida se deveriam informar os participantes do que estava ocorrendo no país. Só perderam a dúvida quando descobriram que a irmã de um dos moradores da casa estava no World Trade Center e permanece na lista de desaparecidos. Enfim, quebraram a regra básica do show e relataram aos três os últimos acontecimentos. Em outros países em que o programa também é produzido, a decisão foi manter os candidatos na ignorância!
Há indícios seguros de que, pelo menos, um dos muitos brasileiros que ficaram sitiados em Nova York na semana passada armou um piti no aeroporto na hora da volta. Um, não. Melhor dizendo: uma. Como tinha modelo-e-manequim na cidade no dia dos atentados! Pois foi uma modelo-e-manequim. Ela levou um susto quando percebeu que a companhia aérea que a traria de volta lhe reservara um assento na mixuruca classe executiva. Bateu pé, disse que não embarcava e fez questão da primeira classe. Não deu certo. Constrangida, teve que se contentar com a executiva mesmo. Depois de Nova York cair em desgraça, tá cada vez mais down no high society. Por falar em brasileiros em Nova York, Jô Soares revelou, no seu programa de segunda-feira, que quase se incorporou à lista. Ele estava lá na semana anterior. Não é impressionante? E disse que, se n&atiatilde;o tivesse voltado, teria ficado lá. Não é mais impressionante ainda?
Enquanto isso, um tiroteio no Túnel Rebouças, envolvendo policiais, bandidos e população civil, deixa um morto e cinco feridos. O terror é aqui."
"Entre a razão e a insanidade", copyright O Globo, 18/09/01
"O historiador Eric Hobsbawm não acredita que o planeta esteja assistindo a um choque de civilizações entre Ocidente e mundo islâmico. Para ele, o que ocorre é um conflito de opiniões e os Estados Unidos devem se pôr a pensar em por que são odiados em grande parte dos países em desenvolvimento. Hobsbawm vê entre os objetivos dos terroristas um recado claro ao presidente americano, George W. Bush, que tem levado a cabo uma política externa voltada exclusivamente para os interesses dos EUA: que nenhum país é hegemônico o suficiente para governar o mundo sozinho. O historiador diz que a hora é de reflexão, e não de revanche.
Uma nova cultura de guerra parece estar surgindo neste início de século. O senhor teme que um possível choque entre as civilizações possa substituir o confronto das idéias?
ERIC HOBSBAWM: Não acredito, como também não reconheço essa nova modalidade de guerra. Guerra se declara a um estado, não a facções religiosas ou políticas. Quando lemos ou ouvimos os últimos noticiários sobre ?guerra aos terroristas?, ?guerra do bem contra o mal?, concluímos que, até agora, a guerra está sendo travada no campo da retórica. Trata-se, na verdade, de uma retórica auto-referencial dos Estados Unidos. É natural que os americanos despertem de um drama sangrento com sede de revanche, de retaliação, pois hoje eles se sentem violados em seus mais profundos valores. Tragédias provocadas pelo terror cimentam a solidariedade civil e, conseqüentemente, irrigam a sede de vingança. A hora, contudo, é de reflexão, não de revanche. O momento é inoportuno também para se falar em justiça, pois neste momento ela seria interpretada como vingança nos Estados Unidos. Mas falar em ?choque entre civilizações? é uma tentativa de redirecionar o problema. Estamos assistindo a um conflito de opiniões, não a um choque entre civilizações. Cristãos e islâmicos formam uma única civilização. Ambos têm seus valores e dogmas bem sedimentados. Portanto, tentar colocá-los em lados opostos é pretender fragilizar o argumento histórico.
Qual o curso que o terror nos Estados Unidos segue?
HOBSBAWM: Há duas mensagens contidas nos ataques terroristas aos Estados Unidos, que todos nós, do mundo ocidental, deploramos, assim como igualmente reagiram a maioria dos países do Oriente Médio e da Ásia. Primeiramente, o governo americano deve se perguntar por que uma onda antiimperialista, antiamericanista, que ganhou força em todos os oceanos do mundo, inunda com tanta implacabilidade os Estados Unidos? Outra mensagem encontra-se embutida em duas outras indagações: por que os responsáveis por essa tragédia sacrificaram as próprias vidas no processo, e por que os Estados Unidos são hoje odiados com imensurável rancor não somente nos países árabes e islâmicos, mas em grande parte do mundo em desenvolvimento? A essas perguntas os Estados Unidos respondem com ponderações incipientes, dizendo que a liberdade e a democracia foram atacadas. A resposta não é tão simplista. A mim, pessoalmente, parece que alguém está tentando dizer ao presidente George Bush que sua política externa negligenciou as necessidades de grande parte dos países árabes e islâmicos, dos países em desenvolvimento; que nenhum país é hegemônico o suficiente para governar o mundo sozinho.
O senhor acredita que a reação dos Estados Unidos, até o momento, tem se revelado infrutífera? Que Osama bin Laden é o culpado?
HOBSBAWM: Não é improvável que Bin Laden esteja envolvido, mas estamos à espera de evidências irrefutáveis. No momento, o presidente Bush reage da maneira como os americanos desejam que ele reaja. A prisão de suspeitos nos Estados Unidos é uma resposta imediata à ansiedade, à angústia do povo americano. A declaração de guerra, igualmente. Mas é no fronte da política, da diplomacia – e não da força – que a resposta americana se mostrará mais eficiente. A política de assassinatos a mentores de ataques suicidas, conduzida por Israel na Palestina, tem fracassado. Se Bush decidir copiar o modelo israelense para solucionar um problema que até agora se encontra na esfera doméstica americana, é provável que se defronte também com o fracasso. Invadir o Afeganistão, assassinar Bin Laden e seus seguidores? Não me parece a reação mais eficiente. Se Bin Laden é mesmo o responsável pelos ataques aos Estados Unidos, outras células do terrorismo podem ser encontradas fora do Afeganistão. Quando o presidente Bush solenemente anuncia que declara guerra aos terroristas, ele não quer dizer que está se mobilizando contra o ETA ou o IRA. É isso o que o mundo muçulmano, igualmente em choque, se pergunta. Quando se fala em guerra, devem-se avaliar as conseqüências que os excessos de retórica podem gerar.
O senhor, então, não acredita que estejamos próximos de uma Terceira Guerra?
HOBSBAWM: Não creio. Acho que o bom senso tende a prevalecer sobre o sentimento de intolerância. Qualquer sugestão de ação militar agressiva no Afeganistão será contraproducente: será a oficialização do recrutamento de uma nova geração de terroristas suicidas.
Vários líderes europeus, como o primeiro-ministro Tony Blair, em um primeiro momento reagiram com simpatia à idéia de lutar lado a lado com os Estados Unidos na guerra contra o terrorismo. Diante da reação unificada do mundo islâmico, eles recuaram. Esse recuo pode levar ao isolamento dos Estados Unidos nesse processo?
HOBSBAWM: Acredito que sim. A Europa teme uma eventual guerra declarada nos limites da paixão. Da China ao Brasil, Bush conta com a simpatia internacional para uma resposta eficiente ao terrorismo. Mas, entre esses países, o uso da força, até o momento, tem sido rejeitado. A melhor contribuição que Tony Blair poderia dar aos Estados Unidos é dizer a Bush para não se precipitar; para não se lançar em uma aventura militar. Aqui na Grã-Bretanha, onde convivemos com o terrorismo há quase 40 anos, já aprendemos que não podemos falar a mesma língua – da violência – que os terroristas falam. Seria a galvanização do inimigo. Quando o mundo se inclina entre a razão e a insanidade, como podemos observar agora, poucas certezas permanecem, além do fato de esta guerra estar sendo declarada em nome dos que defendem a paz.
Na sua opinião, a mídia tem se mostrado responsável na cobertura da tragédia americana?
HOBSBAWM: Acho que não. Como eu disse antes, está havendo um choque de opiniões, e não entre civilizações, patrocinado pelos órgãos de imprensa. Mas esperemos que a opinião pública saiba distinguir entre as duas vertentes.
Uma nova era dos extremos se anuncia para o século XXI?
HOBSBAWM: Os Estados Unidos são um país que despertam crítica e indignação em casa e no exterior. Vietnã, Nicarágua, os direitos palestinos negligenciados, são alguns casos que têm fomentado esses sentimentos. Mas somos meros espectadores da História. Vamos ver o que ela nos dirá. Ainda é cedo para avaliar."
"A lição de Edward Said", copyright no. (www.no.com.br), 18/09/01
"Dos escombros da obviedade e sob a chuva de platitudes que assola a imprensa mundial desde 11 de setembro, está se desenhando um previsível quadro de preconceito. De tão previsível, a demonização do mundo árabe e da vaga entidade do Mal nomeada ?Islã? está sendo tida como ?natural? – no sentido de explicável e compreensível ?num momento destes? e, também, como essência daquilo que se deve temer e aniquilar. A tragédia nivela tudo pelo sofrimento inominável. Mas, por mais que se insista em dizer com condescendência que ?nem todos os muçulmanos são assim?, o que se viu na imprensa nos últimos dias foi, sim, uma associação direta entre terrorismo, fundamentalismo e islamismo. Na America under attack da CNN – mas não só nela – esta é a lógica que não diz seu nome, como aquela outra, bem brasileira, do liberal que, de tão razoável e conciliador, inventou o ?preto de alma branca?.
É certo que a dissonância por si só está longe de ser sinônimo de inteligência e espírito crítico – como bem temos visto, muitas vezes ela é instrumento de arrivistas que defendem o indefensável para se dizerem independentes e ganharem estatura intelectual. Mas quando a dissonância vem de Edward W. Said é bom parar e, pelo menos, ouvir. Na atual crise, o titular de Literatura Comparada da Universidade de Columbia – e principal voz intelectual em defesa dos palestinos num establishment intelectual predominantemente pró-Israel – foi sóbrio e certeiro. Em ?Islã e Ocidente são bandeiras inadequadas?, artigo publicado no ?Guardian? no último fim de semana, ele insiste em demonstrar que as tentativas de polarizar a tensão mundial como uma guerra entre civilizações não vai levar ninguém a lugar nenhum. ?A demonização do Outro não é uma base suficiente para nenhuma tipo decente de política, e muito menos agora, quando se deve examinar as raízes do terror na injustiça e isolar os terroristas?, escreve ele.
Edward Said não sacou seus argumentos das ruínas do World Trade Center. E tampouco tem cadeira cativa em talk-shows para explicar tudo e nada a qualquer um. Suas teses vêm sendo desenvolvida longamente em livros como o clássico ?Orientalismo? (1978), ?Cultura e imperialismo? (1993) e, no mais adequado de lembrar agora, ?Cobrindo o Islã? (?Covering Islam?). A primeira edição saiu em 1981 e nestes 20 anos palestinos, israelenses e americanos não cansaram de atualizá-lo. Com a clareza do quilométrico subtítulo ?Como a mídia e os especialistas determinam como nós vemos o resto do mundo?, Said aplica aos meios de comunicação e aos especialistas que assolam a universidade americana sua longa e desconcertante pesquisa sobre como, ao longo das décadas e segundo conjunturas históricas, o Ocidente inventou para si um Oriente representando diversas culturas heterogêneas e autônomas como um mundo só. Dependendo do momento, este mundo radicalmente diferente em valores, lógica e estética seduz ou amedronta.
Hoje, basta zapear a TV a cabo para verificar como turbantes e minaretes, barbas e arabescos são sinônimo da ameaça. E assim tem sido desde os o início dos anos 70, quando, lembra Said, o mundo árabe passa a ser relevante por motivos vários: a crise do petróleo e o surgimento da Opep, a Revolução do Irã e o ressurgimento do nacionalismo radical, o fim da Guerra Fria, a tirania de Saddam Hussein. A totalidade de diferenças, fatos e variáveis deste universo passou a ser explicada pelo Islã, noção que de tão repetida, repisada e esvaziada, tornou-se tão perigosa quanto o terrorismo. Não é exagero. Em ?Eichmann em Jerusalém?, Hannah Arendt mostrou que o carrasco nazista tinha como uma de suas principais características a repetição monocórdica e insistente de clichês.
?Cobrir o Islã?, escreve Said no prefácio à edição de 1996, ?é uma atividade de mão única que obscuresce o que ?nós? fazemos para destacar, por outro lado, o que muçulmanos e árabes são por conta de sua própria natureza imperfeita?. A frase parece tirada dos manuais de redação, que nos últimos dias carregou ainda mais as tintas fortes na divisão arrogante e perniciosa do ?nós? (Ocidentais, cristãos e judeus, civilizados) e do ?eles? (Orientais, islâmicos, bárbaros). A violência do terror, que é contigente e isolada nas sociedades ocidentais, aparece como essencial e se confunde com a natureza dos ?outros?. O belicismo dos EUA e de Israel é sempre necessário e justificado para o bem da Humanidade, o dos ?árabes? é tão somente uma prova de sua irracionalidade, fanatismo e barbárie.
No último fim de semana, jornais e revistas brasileiros reproduziram alegremente esta lógica, mesmo quando desmentiam as supostas ligações do prefeito do Chuí com Osama bin Laden, transformado num vilão de desenho animado. Os talibãs e seu comportamento execrável são, em diversas reportagens, ?explicados? pelo fanatismo religioso – quando os desmandos, a violência e o abuso de seu comportamento em nada difere dos chefes do tráfico carioca ou colombiano ou, no passado, dos bandos de jagunços justiceiros. Dois pesos, duas medidas.
Em torno deste Islã-entidade, criou-se uma lucrativa e cada vez mais ativa indústria de opinião. Pagos pelo governo ou em busca de nichos no competitivo mercado acadêmico americano, intelectuais transformam-se em ?especialistas? nas minúcias de um conjunto de sociedades nas quais chegam sempre com cabeça e pés no Ocidente, ou seja, francamente dispostos a catalogá-las e descrevê-las mas raramente em entendê-las de um ponto de vista não-dogmático.
Não é preciso filosofia: na web, o site Profnet, que reúne especialistas das mais diversas áreas dispostos a falar com a imprensa sobre suas especialidades, criou um inusitado pacote America Under Attack. De lá é possível falar com o Dr. Ken Perkins, do Walker Institute of International Studies, da Universidade da Carolina do Norte, um ?historiador do Oriente Médio que pode discutir a história da Palestina e outras nações do Oriente Médio e dar uma melhor compreensão das tensões na região, principalmente em relação aos Estados Unidos, se os relatórios verificarem que grupos terroristas do Oriente Médio são responsáveis pelos ataques?. Já o Dr. Ghassan El-Eid, da Universidade do Estado de Connecticut, ?é especialista em política do Oriente Médio? e ?nasceu em Beirute, Libano, e tem sido muito entrevistado sobre terrorismo?.
É a partir destas massas de análises, chamadas em ?Cobrindo o Islã? de comunidades de interpretação, que o sentido de cada época se faz. Samuel P. Huntington e seu ?choque de civilizações?, que substitui a polarização da Guerra Fria pelo Ocidente X Islã, seria, segundo Said, a forma mais bem difundida e bem acabada de solidificar os novos Bem e Mal e não por um acaso tem sido citado nos últimos dias como uma fórmula de explicar a guerra que aparentemente se arma.
No livro de 1981, Edward Said não estava sendo profeta. No artigo do último fim de semana, não estava se repetindo. Nestes 20 turbulentos anos que separam um texto do outro, ele só fez tornar concreta e conseqüente a noção de multiculturalismo que virou clichê na universidade e fora dela. O que escreve sobre os árabes vale para qualquer grupo ou etnia oprimido por uma comunidade de interpretação. Comunidade esta que pode ser violenta e, como se vê agora, legitimar um ataque ?civilizado? contra a barbárie de um inimigo que se conhece apenas de segunda mão, em sua face mais simplificada e evidente, o clichê."