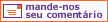GUERRA NA MÍDIA
"Desafios do jornalismo", copyright O Estado de S. Paulo, 1/10/01
"As virtudes e as fraquezas dos jornais não são recatadas.
Registram-nas fielmente os delicados radares da opinião pública. Precisamos, por isso, derrubar inúmeros mitos que conspiram contra a credibilidade da imprensa.
Um deles, talvez o mais resistente, é o dogma da objetividade absoluta.
Inscrito em inúmeros códigos empoeirados, é de um vazio surpreendente.
Transmite, num pomposo tom de verdade, a falsa certeza da neutralidade jornalística. Só que essa separação radical entre fatos e interpretações simplesmente não existe. Jornalistas não são autômatos. Além disso, não se faz bom jornalismo sem emoção. A frieza é anti-humana e, portanto, antijornalística. Não se pode ouvir um corrupto com a mesma fleuma com que um inglês toma o chá das 5. A imprensa honesta e desengajada tem um compromisso com a verdade. A neutralidade é uma mentira, mas a imparcialidade é uma meta que deve ser perseguida. Todos os dias.
A busca da isenção enfrenta a sabotagem da manipulação deliberada, da preguiça profissional e da incompetência arrogante. O jornalista engajado é sempre um mau repórter. Não sabe, como sublinha Carl Bernstein, que ?o importante é saber escutar?. Esquece, ofuscado pela arrogância, que as respostas são sempre mais importantes que as perguntas. A grande surpresa no jornalismo de qualidade é descobrir que ?quase nunca uma história corresponde àquilo que imaginávamos?, sublinha Bernstein.
O bom repórter esquadrinha a realidade, o jornalista preconceituoso constrói a história. Todos os manuais de redação consagram a necessidade de ouvir os dois lados de um mesmo assunto. Trata-se de um esforço de isenção mínimo e incontornável. Mas algumas distorções transformam um princípio irretocável num jogo de aparência. A apuração de faz-de-conta representa uma das maiores agressões à ética informativa. Matérias previamente decididas em guetos engajados buscam a cumplicidade da imparcialidade aparente. A decisão de ouvir o outro lado não é sincera, não se apóia na busca da verdade. É um artifício. O assalto à verdade culmina com uma estratégia exemplar: a repercussão seletiva. O pluralismo de fachada convoca, então, pretensos especialistas para declararem o que o repórter quer ouvir. Personalidades entrevistadas avalizam a ?seriedade? da reportagem. Mata-se a informação.
Cria-se a versão.
A precipitação e a falta de rigor são outros vírus que ameaçam a qualidade informativa. A manchete de impacto, oposta ao fato ou fora do contexto da matéria, transmite ao leitor o desconforto de um logro. Repórteres carentes de informação especializada e de documentação apropriada acabam sendo instrumentalizados pela fonte. Sobra declaração leviana, mas falta apuração rigorosa. A incompetência impune foge dos bancos de dados. Na falta da pergunta inteligente, a ditadura das aspas ocupa o lugar da informação. O jornalismo de registro, burocrático e insosso, é o resultado acabado de uma perversa patologia: o despreparo de repórteres e a obsessão de editores com o fechamento. Quando editores não formam os seus repórteres; quando a qualidade é expulsa pela ditadura do deadline; quando as pautas não nascem da vida real, mas da cabeça de pauteiros anestesiados pelo clima rarefeito de certas das redações, é preciso ter a coragem de repensar todo o processo.
A autocrítica interna deve ser acompanhada por um firme propósito de transparência e de retificação dos nossos equívocos. Uma imprensa ética sabe reconhecer os seus erros. As palavras podem informar corretamente, denunciar situações injustas, cobrar soluções. Mas podem também esquartejar reputações, destruir patrimônios, desinformar. Confessar um erro de português ou uma troca de legendas é relativamente fácil. Mas admitir a prática de atitudes de prejulgamento, de manipulação informativa ou de leviandade noticiosa exige coragem moral. Reconhecer o erro, limpa e abertamente, é o pré-requisito da qualidade e, por isso, um dos alicerces da credibilidade. (Carlos Alberto Di Franco, diretor do Master em Jornalismo para Editores e professor de Ética Jornalística, é representante da Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra no Brasil)"
"Agências e revistas travam ?guerra das fotos?", copyright O Estado de S. Paulo, 1/10/01
"Mal as torres caíram, na manhã de 11 de setembro, começou uma guerra feroz: a guerra das fotos, desencadeada, de Londres a Nova York e de Paris a Washington pelas grandes agências de fotografia e pelas grandes publicações. Como todo o drama do dia 11, essa guerra de fotos é ao mesmo tempo clássica e inédita.
Quais são suas características? A primeira é que jamais um acontecimento foi tão fotografado. Desde o choque dos aviões, e nos dias seguintes, os fotógrafos metralharam.
A segunda é que a queda das torres, um dos acontecimentos mais mortíferos da história recente, curiosamente não gerou muitas fotos sangrentas de cadáveres, de corpos massacrados.
Entre as fotos mais duras estão as de pessoas desesperadas oscilando no alto de uma das torres, mas não de corpos massacrados ou carbonizados.
Essa ausência é em parte explicável: os mais de 6 mil mortos desapareceram nas profundezas do desastre sem que possamos vê-los. Mas houve também uma vontade de decência: os jornais poderiam ter publicado fotos dos corpos extraídos dos escombros pelos bombeiros, mas não o fizeram.
O número de fotos, de profissionais e amadores, de muito boa qualidade, é vertiginoso. A revista Paris-Match, que na França é líder, recebeu 3 mil fotos nas primeiras horas após o atentado. Assim, pôde refazer seu número em andamento antes da meia-noite e antecipar em 24 horas sua publicação.
Os grandes jornais têm o direito de preferência (em troca de uma soma consensual): podem ver em primeiro lugar as fotos das grandes agências (Associated Press, Gamma, Sygma, Magnum), escolhê-las antes dos outros.
Mas em um acontecimento como esse – tão surpreendente, tão universal e coberto por centenas de fotógrafos – os preços não sobem tanto quanto em outros casos. Foi assim que, na França, a foto mais cara da primeira semana atingiu apenas cerca de US$ 40 mil (a foto das pessoas hesitando em saltar).
O direito de ?ver primeiro? não teve tanta importância na circunstância, devido ao número gigantesco de negativos e de sua qualidade. Era possível encontrar, na enorme quantidade, quase tudo que se queria.
Durante a segunda semana os preços aumentaram. Eis alguns rumores mencionados pelo Le Monde: a Focus teria gasto quase US$ 1 milhão um milhão de euros entre a Gamma, a Sygma e a Sipa. Quanto à Paris-Match, fala-se em cerca de US$ 400 mil na primeira semana. Mas a revista, que habitualmente vende 750 mil exemplares, vendeu 1,5 milhão."
"Horror dos atentados inibiu as tradicionais piadas", copyright O Estado de S. Paulo / The Times, 1/10/01
"Depois do horror, as piadas. Vinte e quatro horas após o encerramento do caso O. J.Simpson, a morte da princesa Diana e o primeiro ataque (com um carro-bomba) ao World Trade Center, em 1993, os sites da Internet começaram com as gozações.
O canibalismo de Jeffrey Dahmer acabou se tornando engraçado. As crianças na 2.? Guerra faziam piadas sobre os ataques alemães e sobre o fato de Hitler ter só um testículo. Havia até uma espécie de humor negro e heróico entre os prisioneiros dos campos de concentração.
Os psicólogos dizem que as piadas são um modo de dominarmos o pior da realidade, de reduzirmos o domínio da morte. Alguns podem achar tal humor um alívio, mas muitos o consideram ofensivo e de mau gosto. Há, sem dúvida, uma minoria que tem prazer em gozar da humilhação alheia ao zombar da dor. Mas qualquer que seja a causa, as piadas são a concomitância da morbidez. Não há uma tragédia tão terrível ou um crime tão pavoroso que alguém, em algum lugar, não tente achar graça neles. Ao menos não havia.
Os ataques ao World Trade Center foram tão violentos, tão inesperados e devastadores que mesmo o mais insano de nós – parece – acha difícil encontrar humor na situação.
Mais ainda, há indicações de que esse monstruoso evento pode ter mudado para sempre o humor e até mesmo a cultura popular em geral.
Após os ataques, os sites da Internet que geralmente encaram com um sarcasmo ofensivo os acontecimentos mais horríveis, se desviaram claramente deste assunto e, em alguns casos saíram do ar.
O único site que decidiu divulgar piadas fez isso de uma forma cifrada, incluindo antes uma advertência: ?Estas piadas são sujas, de mau gosto e altamente ofensivas. Se você acha que pode ser ofendido por este texto, não decodifique este artigo?.
O Private Eye pôs na capa o presidente Bush dizendo ?Armageddon, saia daqui?, mas o semanário satírico americano The Onion não circulou, pela primeira vez em 13 anos.
Os comentários satíricos nos jornais britânicos foram suspensos ou, como no caso do The Times, transferidos para outras páginas. O comediante americano Bill Maher poderá ter seu programa Politicamente Incorreto tirado do ar por causa de observações grosseiras sobre os ataques.
Medo da morte – A comédia deriva muito de seu poder do fato de apresentar o medo ou o constrangimento de forma ridícula.
Bob Hope foi criticado por ser jocoso em meio aos horrores da guerra do Vietnã exatamente por este motivo. Segundo Marjorie Woodruff, professora de Psicologia da Southern Methodist University, ?o humor pode ser uma reação antifobia.
Todos nós temos medo da morte, principalmente da morte súbita e dolorosa. Ao brincarmos com a morte, asseguramos nosso domínio sobre ela?. Mas as atrocidades de 11 de setembro foram simplesmente assustadoras demais e o número de mortos foi grande demais para caberem num contexto humorístico.
Com os ataques, não apenas as piadas sobre os fatos em si, mas todo tipo de humor se tornou momentaneamente tabu. Os clubes de Nova York que apresentam comediantes fecharam suas portas. Os apresentadores dos talk shows americanos deixaram a descontração de lado e vão direto aos assuntos.
David Lettermann apertou a mão de Dan Rather quando o veterano apresentador de TV começou a chorar. Jay Leno fez uma homenagem aos bombeiros mortos e prometeu reprimir seu humor: ?Não vamos fazer piadas sobre as pessoas de diferentes raças ou a religião das pessoas. Não é assim que os americanos agem.?
Dave Barry, que escreve uma coluna de humor, afirmou o seguinte: ?Hoje a coluna não tem humorismo. Eu não quero escrever, e você não quer ler.?
A própria natureza da linguagem pode ter mudado, quando as torres desabaram.
James Poniewozic observou, na revista Time: ?Tanta coisa que podíamos dizer há um mês se tornaria vazia e mesmo cruel, hoje.
Nossas metáforas se expiraram. O prazer parece zombativo e fútil. A linguagem que os artistas, comediantes, escritores e atores usam para nos explicar a nós mesmos agora parece frívola, inadequada ou simplesmente defasada.?
Os filmes de TV com tramas envolvendo bombardeios, armas biológicas, terrorismo ou a CIA saíram do ar. O relançamento do musical Assassinos, de Stephen Sondheim, foi engavetado. As canções populares com letras de mau gosto ou duplo sentido foram banidas das estações de rádio. A estréia da última carnificina filmada por Arnold Schwarzenegger foi adiada.
Programas de TV que fazem reconstituições de tragédias e apresentam falsos sobreviventes podem ter perdido seu atrativo após a brutalidade real, demonstrada de modo tão chocante, e a própria palavra ?sobrevivente? traz agora uma carga trágica.
Escritores, cineastas e humoristas não são os únicos que estão policiando seu vocabulário. Mike Lukovich, cartunista do Atlanta Journal-Constitution, vai alterar a maneira de retratar o presidente George W.Bush, de modo a refletir o que considera maior estatura do chefe de governo. ?Não desenharei mais o cara baixinho, de orelhas grandes?, afirmou ele ao Washington Post.
?É uma fase em que mesmo para nós, cínicos cartunistas, o patriotismo vem antes.?
Faca de plástico – Mas aos poucos, o humor está retornando, a maior parte dele, felizmente, do tipo não sádico. As piadas tendem a ser do tipo angustiado, e não do tipo doentio. Por exemplo, um projeto de um novo World Trade Center teria o formato de um gesto obsceno dirigido aos terroristas; um novo mapa do Oriente Médio traz a inscrição ?Lago América, ex-Afeganistão?.
Talvez este seja o sinal mais claro de que um mundo traumatizado esteja se recuperando. Para provar que o humor pode servir de proteção e consolo, além de zombaria mórbida, bastaria lembrar uma das conversas pelo telefone celular, a bordo do avião seqüestrado que partiu de Newark, que continha a melhor piada de todo esse pesadelo.
Quando ele e outros se preparavam para enfrentar os seqüestradores, Jeremy Glick, de 31 anos, operador da Internet, brincou com sua mulher, Lyzbeth, dizendo que ao menos ele havia guardado uma faca plástica, distribuída com o lanche do avião, para usar como arma. Essa piada amarga foi a última coisa que Lyzbeth Glick ouviu o marido dizer. E foi uma boa piada, não no sentido de ter sido muito engraçada, mas porque era, simplesmente, uma boa piada."