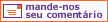GUERRA E PAUTA
Luiz Weis (*)
Um dia depois que a assessora de segurança nacional do governo dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, pediu aos diretores de jornalismo das cinco maiores redes noticiosas de TV do país que não mais levassem ao ar, na íntegra, gravações de falas de Osama bin Laden e de seus lugares-tenentes, geradas pela emissora al-Jazira, do Catar, a CNN tomou uma iniciativa reveladora de como funcionam, nos EUA, as complicadas e não raro contraditórias relações entre o poder, o jornalismo de massa e a sociedade.
A iniciativa ? dedicar cerca de uma hora de sua programação a um debate sobre o assunto, no programa Insight, apresentado por Jonathan Mann ? também deveria animar os críticos da imprensa e os comentaristas em geral a aplicarem às suas reações ao ato da senhora Rice a mesma recomendação que ela fez aos manda-chuvas a quem se dirigira: no caso, pensar duas vezes antes de fulminá-los por se terem submetido ? numa inédita decisão coletiva ? à intromissão da Casa Branca sobre a forma de divulgar os pronunciamentos dos dirigentes do al-Qaeda.
O programa, ao vivo, chamou tanto mais a atenção porque a CNN foi a única rede que, em nota oficial, não apenas se comprometera a praticar a autocensura solicitada pela Casa Branca, mas ainda comunicara com todas as letras que, em caso de dúvida sobre como transmitir, além das mensagens de bin Laden e de seus porta-vozes, matérias em geral, relacionadas à guerra ao terrorismo, buscaria "a orientação das autoridades apropriadas".
Não há jornalista que se preocupa com o que vai encontrar ao se olhar no espelho de manhã que não sinta vergonha por essa abdicação obsequiosa de uma autonomia editorial teoricamente intransferível, ainda mais no país onde a imprensa é a mais livre do mundo e faz praça do jornalismo "sem medo nem favorecimento".
Mesmo porque, integridade profissional à parte, até o mais verde dos focas é capaz de imaginar qual será, em todas ou na maioria absoluta das consultas, a previsível "orientação das autoridades apropriadas": "Melhor, não", ou, em bom americanês, forgetaboutit.
E, apesar dessa constrangedora sabujice, a CNN deu a cara para bater, discutindo a questão do jornalismo em tempos de cólera com suficiente amplitude. Entraram na roda, entre outros, um chefão da emissora, jornalistas da al-Jazira e o editor de um site de media criticism.
O entrevistador não perdeu tempo com bobagens ? a começar da alegação oficial, patentemente desonesta, de que não se deveria divulgar de bate-pronto e sem cortes as manifestações do al-Qaeda porque poderiam conter instruções em código para os seus agentes.
O programa se concentrou nos dilemas que contam efetivamente, envolvendo:
** patriotismo e jornalismo;
** a neutralidade jornalística possível (ou impossível) diante de movimentos e atos terroristas;
** os limites entre informação e propaganda;
** as tensões entre os imperativos da segurança nacional e o direito à informação nas sociedades livres;
** o choque entre a procura da verdade e a defesa do governo, numa guerra diferente de todas as outras, sob o impulso do "certo ou errado, é o meu país";
** e a credibilidade do tipo de jornalismo de duplo padrão, que elogia o seu lado aos gritos e o critica aos sussurros.
Debates como esses (o plural vai por conta da coincidência de que, no mesmo dia e na mesma hora, a BBC-TV transmitia um programa semelhante ao da CNN) permitem desativar as minas dos juízos principistas, como dizem os argentinos, sobre uma questão ? guerra e pauta ? à qual serve como uma luva, e sem ironia, a frase conhecida: "Não sei a solução, mas admiro o problema".
Fio de arame
Para a Casa Branca, o problema de aqui se trata, evidentemente, é vencer as batalhas das convicções e dos sentimentos.
A primeira não se trava nos Estados Unidos, mas no exterior: ninguém precisa convencer os americanos de que a causa é justa e o instrumento para fazê-la vitoriosa é realmente arrancar o couro do Taleban e acabar com a raça do al-Qaeda: 90% da população acredita que Bush está fazendo a coisa certa aos bombardear o Afeganistão.
Mas, no resto do mundo, como se sabe, mesmo entre as pessoas horrorizadas pela carnificina de 11 de setembro, estão longe de ser uma exceção aquelas que condenam os ataques ao território afegão ? ainda mais quando, a cada dia, a própria grande imprensa americana relata denúncias ou casos comprovados de "danos colaterais", o repulsivo eufemismo militar para a morte de inocentes e a destruição involuntária.
Já a batalha dos sentimentos é doméstica ? e o sentimento a ser combatido é o medo de todos de que, a qualquer momento e de formas as mais brutais ou insidiosas, o terror volte a golpeá-los.
Essa é a razão essencial por que o governo não quer ver bin Laden e a sua turma despejando ameaças nas televisões americanas e transformando os espectadores em reféns do pânico de novas catástrofes. No tempo da ditadura, os militares brasileiros inventaram (ou tomaram emprestado) o nome certo para isso: guerra psicológica adversa.
Podem-se julgar como se queira as decisões e o desempenho do presidente George W. Bush. Pode-se achar uma perversidade do destino que, numa hora dessas, esteja ele na Casa Branca, e não um Bill Clinton ou, melhor ainda, um Tony Blair ? o único candidato a estadista deste começo de século.
Mas é injusto negar a Bush o direito de pedir à mass media do país que não dê ajuda e conforto ao inimigo, permitindo que exerça o terror psicológico e propague o seu credo, via CNN por exemplo, a um público ainda maior do que o alcançado pela al-Jazira.
Para os jornalistas americanos aos quais cabe decidir o que é apropriado mostrar ou escrever, sem a bússola de um precedente a orientá-los, o problema é exercer o ofício sobre um fio de arame: ser fiel aos fatos, leal aos concidadãos ? sem perder a decência jamais.
E para os críticos da imprensa, em qualquer parte do mundo, o problema é colocar-se honestamente no lugar deles.
(*) Jornalista