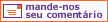ASPAS
REALITY SHOWS
"Banalidade mortífera", copyright Folha de S. Paulo, 10/06/01
"Toda a nossa realidade se tornou experimental. Na ausência de destino, o homem moderno está entregue a uma experimentação sem limites sobre si mesmo. Duas ilustrações recentes: uma, o programa ?Loft Story? (1), da ilusão da realidade ao vivo na mídia; outra, Catherine Millet (2), da ilusão fantasmática do sexo ao vivo.
O loft se tornou um conceito universal, uma condensação de parque de diversões humano, gueto, ?huis clos? e ?Anjo Exterminador?. A reclusão voluntária como laboratório de um convívio sintético, de uma socialidade telegeneticamente modificada.
É então, quando tudo é mostrado (como em ?Big Brother?, nos ?reality shows? etc.), que percebemos que não há mais nada a ver. É o espelho da platitude, do grau zero, onde se comprova, contrariando todos os objetivos, o desaparecimento do outro e talvez mesmo do fato de que o ser humano não é fundamentalmente um ser social. O equivalente a um ready-made -transposição exata da vida de todo dia, ela mesma já falsificada por todos os modelos dominantes. Banalidade sintética, fabricada em circuito fechado e sob tela de controle.
Nisso o microcosmo artificial do loft é parecido com a Disneylândia, que dá a ilusão de um mundo real, de um mundo exterior, enquanto os dois são exatamente idênticos. Todos os Estados Unidos são uma Disneylândia, e estamos todos no loft. Não é preciso entrar no duplo virtual da realidade, já estamos nele -o universo televisual é apenas um detalhe holográfico da realidade global. Até em nossa existência mais cotidiana já estamos numa situação de realidade experimental. E é aí que surge o fascínio por imersão e por interatividade espontânea. Trata-se de voyeurismo pornô? Não.
O sexo está em qualquer lugar, mas não é isso que as pessoas querem. O que elas querem profundamente é o espetáculo da banalidade, que hoje é a verdadeira pornografia, a verdadeira obscenidade: a da nulidade, da insignificância e da platitude. No extremo oposto do Teatro da Crueldade. Mas talvez exista aí uma forma de crueldade, pelo menos virtual. No momento em que a televisão e a mídia são cada vez menos capazes de prestar conta dos fatos (insuportáveis) do mundo, elas descobrem a vida cotidiana, a banalidade existencial como o acontecimento mais mortífero, como a atualidade mais violenta, o próprio local do crime perfeito. O que é, na verdade. E as pessoas ficam fascinadas, fascinadas e aterrorizadas pela indiferença do nada-a-dizer, nada-a-fazer, pela indiferença de sua própria existência. A contemplação do crime perfeito, da banalidade como novo rosto da fatalidade, tornou-se uma verdadeira disciplina olímpica ou o último avatar dos esportes radicais.
Dois tabuleiros Tudo isso reforçado pelo fato de que o próprio público é mobilizado como juiz, que ele mesmo se torna Big Brother. Estamos além do panóptico, da visibilidade como fonte de poder e de controle. Não se trata mais de tornar as coisas visíveis a um olhar exterior, mas de torná-las transparentes a si mesmas, por perfusão do controle na massa e apagando imediatamente os vestígios da operação. Assim os espectadores são envolvidos em uma gigantesca contratransferência negativa sobre si mesmos, e, mais uma vez, é daí que vem a atração vertiginosa desse tipo de espetáculo.
No fundo tudo isso corresponde ao direito e ao desejo imprevisível do ser imprescritível. De não ser nada e de ser visto como tal. Há duas maneiras de desaparecer: ou exigimos não sermos vistos (é a problemática atual do direito à imagem) ou caímos no exibicionismo delirante de nossa nulidade. Tornamo-nos nulos para ser vistos e considerados como nulos -proteção definitiva contra a necessidade de existir e a obrigação de ser.
Daí a exigência contraditória e simultânea de não ser visto e de ser perpetuamente visível. Todo mundo joga nos dois tabuleiros ao mesmo tempo, e nenhuma ética ou legislação pode elucidar esse dilema: o do direito incondicional de ver e aquele, igualmente incondicional, de não ser visto. A informação máxima faz parte dos direitos humanos, portanto também a visibilidade forçada, a superexposição às luzes da informação.
A expressão de si mesmo como forma extrema de confissão, de que falou Foucault. Não guardar nenhum segredo. Falar, falar, comunicar incansavelmente. Essa é a violência feita ao ser singular e a seu segredo. E ao mesmo tempo é uma violência feita à linguagem, pois a partir daí ela também perde sua originalidade, não é mais que um meio, um operador de visibilidade, perde qualquer dimensão irônica ou simbólica quando a linguagem é mais importante do que aquilo que se diz.
E o pior nessa obscenidade, nesse despudor, é a participação forçada, essa cumplicidade automática do espectador, que é resultado de uma verdadeira chantagem. É esse o objetivo mais claro da operação: o servilismo das vítimas, mas o servilismo voluntário, aquele das vítimas que gozam a dor que lhes causam, a vergonha que lhes impõem. A participação de toda uma sociedade em seu mecanismo fundamental: a exclusão interativa, é o cúmulo! Decidida em comum, consumida com entusiasmo.
Se tudo acaba na visibilidade, que, assim como o calor na teoria da energia, é a forma mais degradada de existência, entretanto o ponto crucial é conseguir transformar essa perda de todo o espaço simbólico, essa forma extrema de desencanto com a vida, num objeto de contemplação, de sideração e de desejo perversos. ?A humanidade que um dia com Homero foi objeto de contemplação para os deuses olímpicos hoje o é para si mesma. Sua alienação de si própria atingiu um grau que a faz viver sua própria destruição como uma sensação estética de primeira ordem? (Walter Benjamin).
Duplo contra-senso O experimental substitui assim em toda a parte o real e o imaginário. Em toda a parte os protocolos da ciência e da verificação nos são inoculados, e estamos a ponto de dissecar, em vivissecção, sob o escalpelo da câmera, a dimensão relacional e social, fora de qualquer linguagem e contexto simbólico.
Catherine Millet também é experimental, outro gênero de vivissecção: todo o imaginário da sexualidade é descartado, resta apenas um protocolo em forma de verificação ilimitada do funcionamento sexual, de um mecanismo que no fundo não tem mais nada de sexual.
Duplo contra-senso: o de transformar a própria sexualidade em referência final. Reprimida ou manifestada, a sexualidade é no máximo uma hipótese e, enquanto hipótese, é falso transformá-la em uma verdade e uma referência. A própria hipótese sexual talvez seja apenas uma fantasia, e de qualquer modo é na repressão que a sexualidade assumiu essa autoridade e essa aura de atração estranha -quando manifesta, ela perde até essa qualidade potencial; daí o contra-senso e o absurdo da passagem ao ato e de uma ?liberação? sistemática do sexo: não se ?libera? uma hipótese.
Quanto a demonstrar o sexo por meio do sexo, que tristeza! Como se tudo não estivesse no deslocamento, no desvio, na transferência, na metáfora: tudo está no filtro da sedução, no desvio, não no sexo e no desejo, mas no jogo com o sexo e o desejo. É isso que de qualquer maneira torna impossível a operação do sexo ?ao vivo?, assim como a morte ao vivo ou o acontecimento ao vivo na informação -tudo isso é incrivelmente naturalista.
É a pretensão de fazer tudo ocorrer no mundo real, atirar tudo numa realidade integral. E em algum lugar isso é a própria essência do poder. ?A corrupção do poder é inscrever no real tudo o que era da ordem do sonho…?
A chave nos é dada por Jacques Henric em sua concepção da imagem e da fotografia: é inútil ocultar a face, nossa curiosidade pelas imagens é sempre de ordem sexual -tudo o que buscamos nelas é afinal o sexo e muito especialmente o sexo feminino. Aí está não apenas o quadro ?Origem do Mundo? (Courbet), mas a origem de todas as imagem. Portanto, vamos em frente sem desvios e fotografemos essa única coisa, obedeçamos sem entraves à pulsão escópica! É esse o princípio de uma ?realerotik?, cujo ?acting-out? copulativo perpétuo de Catherine Millet é o equivalente para o corpo: já que afinal aquilo com que todo mundo sonha é o uso sexual ilimitado do corpo, passemos sem desvios à execução do programa!
Nada mais de sedução, nada mais de desejo ou mesmo de gozo, tudo está lá, na repetição inumerável, num acúmulo em que a quantidade teme acima de tudo a qualidade. Sedução prescrita. A única pergunta que gostaríamos de fazer é aquela que o homem murmura ao ouvido da mulher durante uma orgia.
Ela está na verdade além do fim, lá onde todos os processos ganham um ritmo exponencial e só podem se duplicar indefinidamente. Assim como para Jarry em ?Le Surmâle?, uma vez atingido o limite crítico no amor, podemos fazê-lo indefinidamente, é o estágio automático da máquina sexual. Quando o sexo não passa de um ?sex-processing?, se torna transfinito e exponencial. Mas não atinge sua meta, que seria esgotar o sexo, chegar ao fim de seu exercício. Isso é evidentemente impossível. Essa impossibilidade é tudo o que resta de uma vingança da sedução ou da própria sexualidade contra seus operadores sem escrúpulos -escrúpulos por si mesmos, por seu próprio desejo e por seu próprio prazer.
?Pensar numa mulher tirando o vestido?, diz Bataille. Sim, mas a ingenuidade de todas as Catherine Millet é pensar que tiramos o vestido para nos despir, para nos desnudar e assim alcançar a verdade nua, a do sexo ou a do mundo. Se tiramos o vestido, é para parecer não aparecer nua como a verdade, mas para nascer no reino das aparências, isto é, da sedução -o que é exatamente o contrário.
Contra-senso total dessa visão moderna e desencantada que considera o corpo como um objeto que só espera ser despido e o sexo como um desejo que só espera passar ao ato e gozar. Enquanto todas as culturas da máscara, do véu, do ornamento dizem exatamente o contrário: dizem que o corpo é uma metáfora e que o verdadeiro objeto de desejo e de gozo são os signos, as marcas que o arrancam de sua nudez, de sua naturalidade, de sua ?verdade?, da realidade integral de seu ser físico. Em toda a parte é a sedução que arranca as coisas de sua verdade (incluindo sua verdade sexual). E, se o pensamento tira a roupa, não é para se revelar nu, não é para desvelar o segredo daquilo que até então estaria oculto, é para fazer surgir esse corpo como definitivamente enigmático, definitivamente secreto, como objeto puro cujo segredo jamais será levantado, nem tem como ser.
Nessas condições, a mulher afegã de ?moucharabieh?, a mulher engaiolada na capa da revista ?Elle? fazem as vezes de alternativa ruidosa a essa virgem louca de Catherine Millet. O excesso de segredo contra o excesso de despudor.
Aliás, esse próprio despudor, essa obscenidade radical (como a de ?Loft Story?), é mais um véu, o último dos véus intransponíveis, aquele que se interpõe quando acreditamos tê-los rasgado todos. Desejaríamos alcançar o pior, o paroxismo da exibição, o desnudamento total, a realidade absoluta, ao vivo -e ao dilacerado vivo não chegamos nunca. Nada a fazer, o muro do obsceno é intransponível. E paradoxalmente essa busca inútil ressalta ainda mais a regra fundamental do jogo: a do sublime, do segredo, da sedução, a mesma que buscamos até a morte na sucessão de véus rasgados.
O que ?Loft Story? pretende demonstrar é que o ser humano é um ser social, o que não é garantido. O que Catherine Millet pretende demonstrar é que ela é um ser sexuado, o que também não é de modo nenhum garantido. O que se verifica nessas experimentações são as próprias condições da experimentação, simplesmente levadas a seu limite. O sistema se decodifica à perfeição em suas extravagâncias, mas é o mesmo em toda parte. A crueldade é a mesma em toda a parte. Tudo isso afinal se resume, para lembrar Marcel Duchamp, a um ?levantamento de poeira?.
1. Programa transmitido pelo canal de TV francês M6 que mostra o cotidiano de onze jovens vivendo em um loft;
2. Autora de ?La Vie Sexuelle de Catherine M.? (A Vida Sexual de Catherine M., ed. Seuil), em que descreve encontros sexuais que manteve com centenas de anônimos. Seu companheiro, Jacques Henric, lançou o livro de fotos ?Légendes de Catherine M.? (Lendas de Catherine M., ed. Denoël), em que retrata a escritora nua e lhe vota sua admiração, citando Espinosa, Bataille etc.
Jean Baudrillard é filósofo francês, autor de, entre outros, ?A Transparência do Mal? (ed. Papirus) e ?As Estratégias Fatais? (ed. Rocco). A íntegra deste texto foi publicado no jornal ?Libération?. (Tradução Luiz Roberto Mendes Gonçalves)"