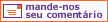COBERTURA DO TERROR
"Escritores voltam o olhar para o vazio do World Trade Center", copyright O Estado de S. Paulo, 23/09/01
"A revista New Yorker dedicou a seção Talk of the Town da edição do dia 17 ao ataque. Entre os participantes, o mais conhecido no Brasil é John Updike, mas há também Susan Sontag e o isralense Aharon Apelfeld, que tem livro publicado no Brasil. O tom não difere muito do utilizado pelo poeta Charles Berstein, que o Estado publicou domingo passado. Ninguém pede originalidade numa hora dessas. Alguma idéia pode ser diferente, alguma informação, mas, como todos sabemos, não há o que dizer.
As palavras não são suficientes para expressar o horror e a comoção.
E estamos falando de mestres da palavra. Observa-se a perplexidade, a consciência pesada do sobrevivente pelo fato nada simples de estar vivo.
Updike, por pouco não cai na fanfarronada patriótica, que aqui pode ser percebida como ilusão de compensar a perda. Ele estava na casa de parentes do Brooklyn e pôde ver a queda do World Trade Center. No dia seguinte, voltou a olhar a paisagem: ?O novo sol brilhava nas fachadas do leste, alguns barcos tentavam navegar pelo rio, as ruínas ainda estavam liberando fumaça, mas Nova York parecia gloriosa.?
Sim, gloriosa, mas os pontos de honra da cultura norte-americana estavam em xeque. Será possível manter a liberdade que garante a um estrangeiro a possibilidade de aprender a pilotar aviões? Ele observa com a agudeza do romancista: ?Na Flórida, o vizinho de um dos suspeitos lembra dele dizendo que não gostava dos Estados Unidos: ?Ele disse que era muito frouxo. Ele disse, eu posso ir a qualquer lugar que quiser, e eles não podem me impedir.? Uma queixa bizarra, talvez um pedido para ser barrado.?
Mundo novo, bizarro, assombrado por um virtual e onipresente escorpião do deserto global, Gotham City. O jornalista Denis Johnson, acostumado a paparicos pelo mundo só pelo fato de ser norte-americano, lembra como o velho Acácio que nem todos os povos adoram os americanos. Enquanto a Sontag, assinalando que a coragem é uma virtude neutra, observa: pode-se dizer qualquer coisa sobre os supercamicases, menos que sejam ?covardes?. Tampouco inábeis, pode-se acrescentar. Ela encerra o artigo sem perder a fé americana, como Updike, mas acrescenta: ?Quem duvida que a América seja forte? Mas isso não é tudo que a América tem de ser.?
O texto que adquire um peso maior na série é o de Aharon Appelfeld. Grande escritor em hebraico, sobrevivente do genocídio, vive em Jerusalém. Gosta de pousar num café de sua cidade, onde até pouquíssimo tempo atrás, podia ler, escrever, sossegado. Agora passaram a importuná-lo com perguntas sobre a situação. Sua resposta é a mais digna que se pode esperar: ?Eu sou um escritor, não um profeta ou um analista político. Como todo o mundo, eu estou tateando na escuridão. De um escritor, as pessoas esperam uma palavra sábia ou uma piada. Mas o que alguém pode dizer quando o que está acontecendo estoura com os poucos pensamentos que tinha?? Mesmo sobreviventes do genocídio, da Shoá, ainda são capazes de sentir medo, num movimento de dupla perplexidade, com o mundo e com eles.
Racismo – No seu bloco de notas semanal publicado na Le Point, Bernard-Henri Lévy, comenta a Conferência Mundial sobre o Racismo, na edição do dia 7. Título: Visão de Pesadelo – O Anti-Racismo, Matriz do Anti-Semitismo. Primeiro ressalva que, na sua opinião, ?é não só aceitável, mas (…) necessário denunciar a ocupação da Cisjordânia e de Gaza?, os métodos do Mossad e a ?brutalidade desmesurada da resposta do Exército israelense à intifada dos primeiros tempos?. O problema está, segundo ele, na tentativa de classificar o sionismo como racismo, o que simplesmente implica a negação de Israel na sua origem."
"Terrorismo do imaginário e suas conseqüências", copyright O Estado de S. Paulo, 22/09/01
"No último Manhattan Connection, o jornalista Caio Blinder confessou que, num esforço pessoal para colaborar com a economia americana, paralisada pela razzia terrorista do dia 11, gastou US$ 40 numa pedicure. Tão enternecedor gesto me estimulou a seguir-lhe o exemplo, assim que o programa chegou ao fim. Só que, em vez dos pés, preferi dar mais atenção, como é do meu hábito, à cabeça. Não, não fui ao barbeiro, pois os reais que daria a um fígaro do Rio nenhum benefício trariam à economia americana. Tentei contribuir para o seu soerguimente comprando um livro pela internet e renovando a assinatura de um semanário editado em Nova York, que há décadas vem enriquecendo a minha massa cinzenta.
Deu mais de US$ 40, ninharia para causa tão nobre e urgente.
O semanário não é a Time, mas The Nation, um oásis no deserto de pieguices, patriotadas e histeria belicista em que se transformou boa parte da mídia americana após a destruição do World Trade Center.
?Esqueçam a justiça: queremos vingança!?, exortava o escandaloso e jingoísta New York Post, no calor dos acontecimentos, conselho que o presidente Bush seguiu à risca, colocando a prêmio a cabeça de Osama bin Laden antes mesmo de provar sua culpa com dados concretos. Tenho lido em The Nation – e também em CounterPunch – as melhores análises dos recentes atentados terroristas e da escalada militar em andamento, assinadas por Robert Fisk, Noam Chomsky, Jonathan Schell, Alexander Cockburn e Patricia Williams. O que não significa que todo o establishment jornalístico americano tenha se comportado de forma insatisfatória.
Vários analistas repeliram com veemência a irracional cruzada exigida por Bush e o fundamentalismo ianque (que não pôs as manguinhas de fora só durante o macarthismo), não se esquecendo de cobrar a responsabilidade da política externa dos EUA na eterna crise no Oriente Médio e no fortalecimento de grupos islâmicos obscurantistas, intolerantes e genocidas.
Penso, por exemplo, em Anthony Lewis, do New York Times, sistematicamente preterido nos jornais daqui por velhos guerreiros frios como William Safire, que aliás mostrou-se insuperável no quesito paranóia, ao denunciar a existência de um espião a serviço dos terroristas infiltrado na Casa Branca.
O livro que mandei buscar, para ajudar a economia americana, mas não apenas ela, é Camera Politica, de Douglas Kellner e Michael Ryan, editado pela University of Texas Press na década passada e, mais do que nunca, necessitado de uma atualização. Queria dá-lo de presente a um amigo, como eu interessado na maneira insidiosa como os filmes de Hollywood tratam as etnias que considera inferiores, quando não perigosas à estabilidade mundial, que, como se sabe, costuma ser um eufemismo para os interesses corporativistas e armamentistas americanos. Camera Politica foi o primeiro, e talvez seja o único, ensaio sobre a demonização dos árabes na tela – que é antiga (quase 30 anos) e atingiu níveis intoleráveis de estereotipagem e racismo bem antes da entrada em cena do aiatolá Khomeini e dos talibãs.
Felizmente para os EUA, os islamitas mais fanáticos não vão ao cinema nem vêem televisão; do contrário, seu ódio aos americanos seria mil vezes maior.
Kellner e Ryan pegaram 21 filmes, produzidos a partir da crise do petróleo, no início dos anos 70, e descobriram que em todos eles os fiéis de Maomé ou não passavam de grosseirões fabulosamente ricos, hedonistas e tarados (sobretudo por mulheres americanas, que vez por outra raptavam e violavam), às vezes ligados ao terrorismo e ao tráfico de escravas brancas, ou pobres-diabos ignorantes, fanáticos e truculentos, não raro idiotas, lerdos e covardes (os soldados kuaitianos que Eddie Murphy treinava em A Melhor Defesa é…o Ataque, por exemplo). E as mulheres? A partir da década de 80, elas perderam a pulcritude e as curvas de Maria Montez, Piper Laurie, Elaine Stewart, embagulharam feio e até ganharam buço. É melhor ser beijado por uma macaca do que por uma rainha árabe não era uma das teses da comédia Rally Muito Louco (Cannonball Run 2)? Se muitos muçulmanos desconhecem o quanto Hollywood os achincalha e sataniza, milhões de americanos acabaram condicionados a vê-los como sinônimos de primitivismo, perfídia e desumanidade. Os vietnamitas já passaram por igual desqualificação e, antes deles, foi a vez de coreanos e japoneses, igualmente retratados como ?inimigos sem rosto? para mais facilmente serem reificados e mortos, sem dó nem piedade. Os pilotos americanos que em aldeias vietnamitas despejaram napalm e nos habitantes de Hiroxima e Nagasaki jogaram bombas nucleares não eram também ?inimigos sem rosto?, do ponto de vista de seus alvos? Essa expressão me dá calafrios desde que um alto funcionário da CIA, George Carver, escreveu, em 1965, para a revista Foreign Affairs, um artigo intitulado The Faceless Vietcong (O Vietcongue sem Rosto), no qual racionalizava o Programa Fênix, uma campanha de assassinatos e torturas de civis sul-vietnamitas patrocinada pelo governo americano.
A história do preconceito e do ódio fomentados pelo cinema continua pedindo para ser escrita. Através dela descobriríamos por que tantos de nós, ocidentais, ditos civilizados, discriminam os orientais (e não apenas os orientais) como criaturas exóticas, esquisitas, malévolas, inferiores mesmo, que por isso não fazem a menor falta neste mundo onde os americanos, lídimos representantes do Bem, sempre levam a melhor.
Como essa história fatalmente passaria pelos hediondos acontecimentos do último dia 11, uma reflexão sobre o patológico fascínio dos americanos pela violência e pela destruição, inclusive de suas cidades, de seus habitantes e de seus monumentos, perpetrada num sem-número de filmes, só iria enriquecê-la. Arnaldo Jabor tentou em vão levantar essa questão, no último Manhattan Connection. Pena, porque o imaginário cinematográfico tem mais a ver com os atentados da semana passada e seus desdobramentos do que supõe a vã psicossociologia de massa.
Na tela, sem dúvida, os americanos são mais competentes: vencem todos os seus inimigos, externos e extraterrenos, e saem como heróis até de refregas de que nunca participaram, como a campanha contra os japoneses na Birmânia, empreendida por forças britânicas mas ?vencida?, em Um Punhado de Bravos (Objective Burma), por um grupo de pilotos americanos. Quem os comandava?
Errol Flynn. Quem liderava o cerco aos terroristas árabes de Nova York Sitiada? Bruce Willis e Denzel Washington. Mas quem está à frente da operação Justiça Infinita? George W. Bush. Não foi fácil para os americanos ver um disaster movie tornar-se real diante de seus olhos sem que na Sala Oval da Casa Branca estivesse alguém como Harrison Ford ou Henry Fonda. O mínimo que se pode dizer sobre a guerra contra Osama Bin Laden é que ela começou com um tremendo miscasting. Nem sempre a vida imita a arte com perfeição.
Há 36 anos, Susan Sontag escreveu um ensaio sobre o doentio encantamento que os filmes de ficção científica provocam numa extensa camada de espectadores, em especial entre os adolescentes, a que deu o título de A Imaginação do Desastre. Me lembrei dele ao ler a notícia de que a procura, nas locadoras de vídeos, por filmes em que Nova York é atacada ou destruída aumentou consideravelmente depois dos atentados da semana passada. Sontag acha, com razão, que os filmes de ficção científica nada têm a ver com a ciência. Sua verdadeira matéria é a destruição. Fonte de uma ?mitologia popular para a imaginação negativa contemporânea?, a ficção científica cinematográfica estetiza o aniquilamento, busca e sublinha ?as belezas peculiares? das hecatombes, das explosões e dos escombros, oferecendo à platéia gratificações primitivas e uma catártica sublimação do medo e do horror. Nela haveria um forte componente de wishful thinking, de estímulo à guerra e de indução à apatia face aos problemas que podem de fato causar a destruição de uma cidade ou até do planeta.
Por falar em destruição e wishful thinking, muito se escreveu sobre as ressonâncias simbólicas das duas torres do World Trade Center, mas só Jeffrey St. Clair, em CounterPunch, teve a coragem de notar que, em outras circunstâncias, milhares de nova-iorquinos e adventícios teriam aplaudido sua implosão. Supostamente impermeáveis a ventos, tufões, umidade e outras agressões naturais – mas não, como se viu, a aviões a jato de grande porte – eram dois alvos assaz tentadores. Os roteiristas de Hollywood não foram os primeiros a notar isso. Três anos atrás, Eric Darton, autor de um ensaio sobre o WTC, intitulado Divided We Stand, fez um alerta: ?Quando se ergue um ícone como o WTC, pode contar que, cedo ou tarde, alguém tentará derrubá-lo?.
Eram duas excrescências arquitetônicas, dois fálicos monumentos à megalomania e à arrogância, que um grupo de camicases conseguiu, involuntariamente, transformar em símbolos de resistência ao terror e resiliência moral e econômica, razão pela qual já pensam em reconstruí-las, quando o mais aconselhável, econômico e paisagisticamente correto seria manter o mítico Empire State Building como o mais alto arranha-céu de Manhattan. No Architectural Guide to New York de 1998, Francis Morrone mandou ver: ?A melhor coisa do WTC não é oferecer a mais ampla vista de Nova York, mas ser o único ponto da cidade de onde não se vê o WTC.? Quem o desenhou foi Minuro Yamasaki, japonês como a palavra camicase, que se tornou o arquiteto preferido das grandes corporações porque seus projetos saíam bem mais baratos que os de Philip Johnson e demais concorrentes. Morto há 15 anos, Yamasaki, ironicamente, sofria de acrofobia. Seus arranha-céus eram, pois, uma projeção de sua morbidez. Bom carma não podiam ter."
"O terror e a mídia", copyright Folha de S. Paulo, 23/09/01
"O objetivo principal do terror é a promoção de uma causa, que pode ser boa ou má, de acordo com o lado que se escolher. E a causa má pode transformar-se em boa, e vice-versa.
Menahen Begin fez parte do grupo terrorista que atacou o hotel King David, em Jerusalém. Dezenas de oficiais ingleses morreram na explosão. Anos mais tarde, o mesmo Begin ganhou o Prêmio Nobel da Paz.
O próprio Arafat foi considerado o terrorista número um do seu tempo. Espantou o mundo quando compareceu à ONU com duas pistolas na cintura -e naquele espaço internacional é proibida a entrada de armas. Arafat também ganhou o Nobel da Paz.
(Jamais ganharei o Nobel da Paz, entre outros motivos, porque até hoje nunca pratiquei um ato terrorista. Consolo-me em ser um anarquista obscuro e inofensivo.)
O objetivo principal do terror é a promoção, que antigamente se chamava ??propaganda? (única palavra alemã que eu consigo traduzir sem ajuda de dicionário). Até que ponto a mídia, fazendo do terror um espetáculo mundial, não faz o jogo dos terroristas?
Quando do recente sequestro da filha de Silvio Santos, os jornais que noticiaram os fatos acusaram os demais órgãos, que preferiram o silêncio, de fazer o jogo dos sequestradores. Ouvi esta frase: ??Não podemos ser pautados pelos bandidos?.
Ora, a finalidade do terrorismo é a promoção do ato terrorista em si. Noticiá-lo, ao vivo e a cores, não seria cumprir a pauta dos criminosos?
Essa e outras questões ficam em aberto. Não acredito que tenhamos respostas para elas. Volta e meia, recebo e-mails de leitores reclamando que eu costumo levantar problemas sem apresentar soluções. Um filósofo pré-socrático dizia que os deuses foram uns sacanas, criaram um problema (o mundo) e deixaram a solução para os homens."