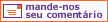GUERRA E CENSURA
Arnaldo Dines, de Nova York
O mínimo que se pode dizer dos escândalos ocorridos durante o governo de Bill Clinton é que serviram para manter a imprensa americana em treinamento constante na arte de criticar o chefe da nação. A prática adquirida ficou evidente após a contestada vitória de George W. Bush na eleição presidencial do ano passado e foi confirmada a partir de sua posse, quando a esfinge da nova administração republicana tornou-se o objeto maior na mira da imprensa.
Neste contexto, a imprensa foi supreendida após a tragédia do
World Trade Center com a reação negativa do público
americano contra qualquer tipo de crítica ao líder
do país, cujo índice de aprovação subiu
rapidamente para 90%. E números altos como estes tendem a
se solidificar nas próximas pesquisas, com o prosseguimento
da retaliação militar no Afeganistão.
O fato é que apesar da cobertura sensível e respeitosa nos primeiros dias após o ataque a Nova York e Washington, faltou intuição à imprensa para discernir a transformação na psique coletiva. Faltou-lhe a percepção de que após aquela fatídica manhã de 11 de setembro, o jornalismo americano foi colocado por força do destino perante um novo dilema existencial: de um lado os preceitos do First Amendment (a primeira emenda à Constituição) garantindo o direito de livre expressão, e do outro, a solidariedade e responsabilidade social.
O debate jornalístico se complicou ainda mais a partir de
7 de outubro, com a introdução à equação
de fatores adicionais inerentes à militarização
do conflito. Como lidar, por exemplo, com o sigilo e censura militar,
decorrências naturais de uma guerra? E como lidar com a propaganda
terrorista, como foi o caso da transmissão pelas redes de
televisão do tape pré-gravado por Osama bin Laden?
As imagens exibidas em 7 de outubro foram preparadas como um comercial
desesperado da al Qaeda, a organização terrorista
liderada por bin Laden, para ser entregue à rede de TV al-Jazeera,
de Quatar, ao sinal do primeiro bombardeio. Mas, se sob o pretexto
de poupar o público americano, as redes de TV do país
haviam censurado as imagens de pessoas pulando das chamas do World
Trade Center para a morte na calçada e de corpos mutilados
nos escombros, como justificar então a exibição
em cadeia nacional de material promocional do arquiteto responsável
pela chacina? Cabe realmente à mídia definir como
aceitável as imagens dos líderes do fanatismo islâmico
proclamando a jihad contra os infiéis, mas não
do resultado brutal de suas ações?
Opiniões desvairadas
À parte da síndrome de prepotência, faltou também à imprensa uma maior agilidade no debate público da cobertura. Foi somente na edição de 28 de setembro que The New York Times deu um primeiro passo com a publicação de um artigo sob o título de "Em tempos de patriotismo, o dissentimento é emudecido". Logo no dia seguinte, um comentário do ombudsman do Washington Post abordava o tema de liberdade de expressão em tempos de guerra. Já o San Francisco Chronicle foi mais adiante, em 3 de outubro, com um artigo intitulado "Quando patriotismo colide com jornalismo".
Se essas análises foram fortuitas, foram também tardias devido a uma série de incidentes prévios que expuseram o problema. O primeiro foi uma observação do âncora principal da rede ABC, Peter Jennings, feita ainda no dia do ataque ao World Trade Center. Ele disse casualmente que, em ocasiões como estas, o país espera do presidente uma mensagem de segurança, e que alguns presidentes fazem isto bem e outros, não. Jennings acabou recebendo mais de 10 mil e-mails críticos, após ter sua frase interpretada por Rush Limbaugh, um popular comentarista de rádio, como um ataque ao caráter do presidente. No final, foi Limbaugh quem pediu desculpas ao vivo aos seus ouvintes, pela sua análise precipitada.
Outro caso, também envolvendo a rede ABC, foi um comentário de Bill Maher, apresentador do programa Politically Incorrect, justificando a atitude dos terroristas como corajosa frente à covardia dos Estados Unidos em operações militares no passado.
Menos de uma semana depois do assassinato de milhares de nova-iorquinos, o fato de Maher ? um ex-ator de segunda categoria transformado em apresentador de talk shows ? poder disseminar suas opiniões desvairadas em cadeia nacional causou um furor que chegou a atordoar a Casa Branca. O porta-voz da presidência, Ari Fleisher, declarou que os americanos deveriam ter muito cuidado com o que falam. O resultado foi prejudicial para todos. Apesar de ter-se retratado, o programa de Maher passou a ser boicotado por anunciantes indignados (Sears e Federal Express), enquanto que Fleisher se viu obrigado a explicar que não propusera a autocensura, mas apenas uma reflexão sobre o que se deve dizer, ou não, em tempos de guerra.
Discussão livre
Diversos outros casos foram reportados em órgãos de mídia pelo país afora. Os autores de dois artigos criticando as ações iniciais do presidente Bush em 11 de setembro, publicados nos jornais The Texas City Sun e Grant Pass Daily Courier (este do estado de Oregon), foram demitidos sem grandes cerimônias. E políticos estaduais propuseram cortar o orçamento da estação de TV da Universidade de Missouri, que proibiu o uso de bandeiras americanas pelos repórteres. Deve-se ressaltar apenas que esses incidentes ocorreram em mercados sem a menor relevância nacional ? a circulação diária do The Texas City Sun, por exemplo, não chega a seis mil exemplares.
No âmbito da intelectualidade americana (e nos extremos do espectro político),
os casos de maior repercussão foram os artigos da colunista
Ann Coulter para o National Review Online e da escritora
Sunsan Sontag, para a revista The New Yorker. A primeira
publicou um texto pregando não somente a invasão dos
países responsáveis pelo ataque em Nova York, assim
como o assassinato de seus líderes e a conversão forçada
das populações ao Cristianismo. A segunda, além
de criticar a onda de patriotismo demonstrada na televisão,
prosseguiu em descaraterizar a chacina no World Trade Center como
um ato covarde ? mas, sim, como um ataque justificado contra uma
potência mundial.
Se a diferença de opinião entre as duas autoras é óbvia, a reação das duas publicações perante a repercussão negativa dos artigos revela um posicionamento igualmente discrepante. Pelo radicalismo de suas opiniões, Ann Coulter foi sumariamente demitida da National Review, uma publicação reconhecidamente conservadora. Por outro lado, a direção da New Yorker, um símbolo da intelectualidade liberal do país, limitou-se a publicar umas poucas cartas de leitores criticando a ferocidade de Sontag.
A questão que se coloca, então, é de certa maneira surpreendente não somente para os Estados Unidos como para o panorama mundial. Será que a imprensa conservadora, teoricamente mais reacionária, tem maior capacidade crítica de seus excessos do que a imprensa liberal, que por princípio seria mais atenta às sensibilidades do público? Na realidade, a própria pergunta apenas encobre novamente a questão da responsabilidade jornalística versus o direito de livre expressão.
Uma possível resposta para o dilema é uma frase do grande jornalista e escritor americano Walter Lippmann, falecido em 1974. Segundo ele, "a teoria da impressa livre dita que a verdade emerge através da discussão livre, e não da noção de que será apresentada perfeita e instantaneamente em um único relato". Ironicamente, esta frase aparece justamente abaixo do cabeçalho do Grant Pass Daily Courrier, o mesmo jornal que demitiu um de seus jornalistas por criticar o presidente.