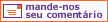COBERTURA DE GUERRA
Luiz Weis (*)
Pelo menos nos cinco primeiros dias que se seguiram à carnificina terrorista nos Estados Unidos ? quando, pelo fortuito fato de estar lá, acredito ter lido e visto quase tudo de importante que saiu sobre o horror nos principais jornais e emissoras de TV do país ? parecia mais fácil achar uma vítima viva nos escombros do World Trade Center do que reportagens ou artigos que não ecoassem a "linha justa" de Washington sobre os acontecimentos.
Essa não é uma opinião solitária, implicante ou esquerdóide. Numa restrita reunião acadêmica para discutir a nova crise política mundial, em São Paulo, na sexta-feira [21/9], um dos participantes contou ter ouvido de um empresário a seguinte observação. "Bom mesmo é nos Estados Unidos", comentou, numa comparação com o Brasil. "Ali a imprensa não fala mal do governo."
Concordo com a avaliação de Alberto Dines, na edição n? 139 deste Observatório [veja remissão abaixo], segundo a qual a mídia americana, especialmente a nova-iorquina, "reagiu com incrível velocidade (aos atentados), derrubou os constrangimentos empresariais relativos a custos e receitas, esqueceu o show business, mostrou o que precisava ser mostrado" ? incluindo, é bom acrescentar, as reiteradas denúncias de representantes da comunidade árabe-americana (ou muçulmano-americana) sobre os odiosos ataques racistas que se multiplicavam contra adultos e crianças de aparência ou vestes islâmicas.
Mas nenhum órgão de imprensa americano que vale o que pesa pôs em dúvida, por exemplo, a instantânea versão oficial de que o culpado pelas atrocidades é o saudita acantonado no Afeganistão, Osama bin Laden, de notória folha corrida no departamento de façanhas terroristas contra alvos civis e militares americanos.
Nenhum repórter, comentarista ou redator de editoriais fez, com a devida insistência e contundência, a singela pergunta "de 64 mil dólares", como se dizia décadas atrás, quando esse era o grande prêmio dos precursores dos shows do milhão na TV americana: cadê as provas?
Cena de crime
Sob o impacto da maior, mais espetacular e mais virulenta agressão já sofrida pelos Estados Unidos em seu território continental, os jornalistas locais aceitaram ? com mansidão espantosa para todos aqueles minimamente familiarizados com o cético olho duro dessa alcatéia faminta por um scoop ? a resposta de que provas o governo as tinha, só não podia apresentá-las porque de outro modo exporia as fontes que as forneceram.
Desta vez, na contramão de tudo que se notabilizou por fazer pelo menos desde a Guerra do Vietnam, em matéria de escarafunchar as verdades do oficialismo, até trazer à tona as mentiras que elas costumam acobertar, a mídia americana comprou o peixe bin Laden com escamas e tudo. A desconfiança deserdou a imprensa mais xereta do planeta.
Deixou-se barato ainda a alegação da Casa Branca de que George W. Bush ficou ziguezagueando pelo país desde que soube dos ataques, quando visitava uma escola na Flórida, porque havia suspeitas de que o Air Force One seria outro alvo dos terroristas, se estivesse, como de costume, na Base Aérea de Andrews, em Washington. Bush só pôs os pés no seu lugar de trabalho às 7 da noite ? e esse foi praticamente o único reparo importante que parte da imprensa, em especial o principal repórter político do New York Times, R. W. Apple Jr., fez ao comportamento do presidente durante a tragédia.
Deu também para notar a mesma deficiência no noticiário estritamente "policial" do caso. Salvo engano, não apareceu em parte alguma um relato coerente e comprovável da história toda ? ou da história que já tenha sido possível reconstruir. Ou pelo menos uma lista criteriosa de todas as perguntas ainda sem resposta sobre o tenebroso ultraje.
Contou-se aparentemente direito o capítulo do treinamento, numa escola de aviação da Flórida, dos sauditas que acabaram assumindo o manche dos aviões seqüestrados, conseguindo jogar dois deles contra as torres do WTC e outro no Pentágono.
Não se contou, porém, a não ser aos fiapos, o capítulo Boston da trama. Logan, o aeroporto local, de onde partiram dois dos quatro jatos comerciais capturados, foi considerado "cena de crime" e fechado de terça a sábado [15/9] de manhã. Para a imprensa, só vazou a história do carro apreendido no estacionamento, onde o FBI achou um vídeo e um manual de pilotagem (em árabe). Sobre a eventual participação do pessoal de terra ? mecânicos, pessoal de limpeza, transportadores de bagagens, entregadores de comida ? nem uma palavra.
Na tarde da quinta-feira [13/9], com o alarido habitual, uma frota de viaturas, ambulâncias e carros de bombeiros, sirenes a todo vapor, cercou, esvaziou e ocupou um dos hotelões do centro de Boston, o Westin Copley, onde participantes da operação se haviam hospedado. A polícia chegou lá seguindo a pista de cartões de créditos usados pelos bandidos. A razzia rendeu as previsíveis tomadas de TV, mas não acrescentou um parágrafo que valesse a pena ler ao noticiário da semana.
Jornal estrangeiro
À parte a história dos pilotos suicidas na Flórida, incluindo a sua despedida, num bar de ostras local, o máximo que os jornais e as TVs tinham a oferecer naqueles dias eram peças avulsas e desconectadas desse quebra-cabeça sobre a tremenda vulnerabilidade da única superpotência mundial a uma ofensiva até então concebida apenas em thrillers e filmes de Holywood.
Outra coisa que faltou nos primeiros dias da vasta cobertura da terça-feira negra foi o mundo. Se quisesse saber como que os poderosos da Terra (e os nem tanto) vinham reagindo ao massacre de 11 de setembro, o leitor e telespectador estrangeiro nos Estados Unidos tinha de dobrar o jornal, tirar o som da TV e viajar na internet.
Não é novidade para ninguém a histórica introversão da imprensa nos Estados Unidos ? TV, então, nem falar. Daí a colossal ignorância do homem da rua sobre o que se passa habitualmente além das fronteiras de seu grande país. (Vai ver que é por isso que, não faz muito tempo, Bush imaginava que Taliban era um conjunto de rock.. Sério. Deu no jornal.)
Daí também o que primeiro distinguiu o New York Times do resto da competição: a cobertura do exterior, entregue a uma rede de correspondentes próprios que, um pelo outro, acabavam sabendo mais dos países onde viviam do que os respectivos embaixadores de Tio Sam e do que a maioria do pessoal do Departamento de Estado. (Por isso mesmo, eram assediados o tempo todo pela CIA, ao menos para trabalhos de free lance, digamos assim.)
Não é possível que não haja uma relação entre o desinteresse da mídia americana sobre como ficou o mundo depois dos atos de barbárie e o desinteresse do governo Bush em se entender com esse mundo ? à parte as invocações retóricas ? para um combate comum à praga terrorista.
Unilateralista remido, o presidente republicano que até agora só fez isolar os Estados Unidos no caso de uma variedade de questões, a exemplo do Protocolo de Kyoto contra o efeito estufa, sequer se dignou a fazer uma mísera referência às Nações Unidas no seu celebrado discurso de guerra ao terror, perante o Congresso americano, na quinta-feira [20/9]. E se falou em cooperação ? uma só vez ? foi para pedir que os americanos cooperassem com as investigações do FBI.
De novo salvo engano, nenhum grande jornal dos Estados Unidos destacou essa omissão acabrunhantemente reveladora da mentalidade Rambo com que o governo Bush parte para o confronto global com o fundamentalismo muçulmano. Quem registrou esse fato da maior gravidade política foi um editorial de um jornal estrangeiro, O Estado de S.Paulo, na edição de sábado [22/9].
(*) Jornalista