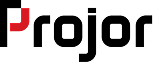A migração latino-americana é o tema do livro Remolinos, organizado pelo pesquisador e jornalista Enio Moraes Júnior. Imigrante brasileiro em Berlim, Moraes Júnior traz, na obra, reportagens de autoras e autores que, também migrantes, não apenas se debruçam sobre os registros de personagens em contextos migratórios, mas oferecem, também, apontamentos de suas próprias experiências vivendo em outros países.
Publicado pela Editora Casa Flutuante em parceria com o CELACC (Centro de Estudos Latino Americanos sobre Cultura e Comunicação) da USP, o livro aborda a imigração em suas muitas dimensões. Com relatos imersivos, a obra oferece diferentes perspectivas sobre a migração latino-americana no norte global, entrelaçando relatos pessoais e reflexões sobre os impactos do processos migratório.
O Observatório da Imprensa conversou com o organizador da obra sobre o processo de criação do livro, seus desdobramentos, e os desafios do jornalismo migratório.
Como essa iniciativa se desenhou? Como ela foi pensada, como conseguiu ser realizada?
Em meados de 2022, eu já estava há cinco anos na Alemanha. E sempre procurei permanecer ligado ao jornalismo brasileiro, escrevendo no Observatório da Imprensa, fiz alguns projetos aqui na Alemanha também. E fiz um projeto de perfis, sobre migrantes lusófonos que moram na Alemanha, e que saiu em um site daqui de Berlim, chamado Berlinda.
E, em 2022, o CELACC (Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação), da USP, escreveu para algumas pessoas – eu, por exemplo, faço parte do conselho editorial do CELACC. E, nessa mensagem, pediam sugestões temáticas para revistas. Eles têm uma revista científica chamada Extraprensa. E nisso, eu sugeri o tema imigração.
Esse tema já estava em mim há muito tempo, principalmente na condição de imigrante internacional – porque sou migrante quase desde sempre. Eu sou do interior de Alagoas, mudei para a capital, para Sergipe, depois mudei para São Paulo. Passei um tempo em Portugal, voltei para São Paulo. Então esse tema já estava em mim desde sempre.
Sugeri o tema, e me chamaram para assumir a coordenação científica dessa edição da Extraprensa. E aí, quando assumi, tive que entrar em contato com muita gente para convidar, para escrever. Muitos textos para ler. E entrei em contato com alguns jornalistas latino-americanos, principalmente brasileiros, que mandaram textos, escreveram, e a revista saiu. E aí a gente começou a pensar, no final de 2022: por que não fazemos um projeto junto?
Começamos a nos reunir, e compartilhamos uma angústia nossa. Primeiro, uma angústia humana, de imigrantes: precisamos entender melhor o que está acontecendo, o que acontece com nós, que migramos. E aquilo começou a ser um canal de trocas muito importante sobre migração, e pensamos que poderiamos compartilhar isso com o público.
Dentro desse projeto de formar um grupo de estudos, a primeira coisa que decidimos levar adiante foi um livro reportagem. E aí surgiu a ideia do livro, Remolinos. Quando vimos, o grupo formado em torno do projeto era basicamente composto por latino-americanos que tinham migrado para o norte global. Para países da Europa, principalmente ocidental: Portugal, Espanha, Alemanha e Suíça. Além de Estados Unidos e Canadá.
Com o grupo formado, sentimos um potencial interessante para contar essas histórias na perspectiva de alguém que que sai do sul global e vai para o norte global – porque contar a história de imigração, por exemplo, do cara que sai da África e vai para a Europa, é uma história diferente.
A nossa migração latino-americana tem um traço que é muito importante, que é muito definidor. A gente não está fugindo de uma guerra, nem de uma pobreza extrema. Mas, ao mesmo tempo, fugimos de certos conflitos, de problemas políticos e econômicos.
No caso da América Latina, com exceção da migração talvez venezuelana e haitiana, que são ligadas a fatores mais complexos, as outras migrações não o são. Nós não temos, no caso brasileiro, a condição de refugiados.
Ao mesmo tempo, a nossa é uma migração de um povo colonizado, que volta para suas colônias, volta para a casa do colonizador. Com todas as esperanças, as ilusões que existem nesse processo.
Essas nuances não aparecem quando você pega o jornalismo mainstream, para o qual, acho, a história de migração para muito na fronteira, no passaporte, no visto. Mas, depois que você cruza essa fronteira, é aí que as nossas histórias começam. E as histórias que a gente quer contar começam exatamente aí, depois de cruzar a fronteira.
Cada participante do livro ofereceu sua história? Ou existiu uma certa reunião de pauta para pensar como estruturar as reportagens?
Quando discutimos com o grupo, convidamos as pessoas e dissemos: vamos pensar aqui em três requisitos. O primeiro requisito era visibilizar o migrante, e a migração, nesse contexto de um novo país, de um novo lugar. Então essa história precisaria ser contada nesse novo lugar, a partir da perspectiva do migrante mesmo.
Acho que o jornalismo tem uma função importante, de contar as histórias dessas pessoas, mostrar quem são, como vivem, como colaboram com aquela sociedade (em que são inseridas), o que aprendem. Porque o sujeito que migra se transforma profundamente Então era nosso objetivo contar essas histórias, tentando visibilizar o migrante e a própria migração.
Em segundo lugar, iríamos escolher, cada autora ou autor, um personagem. E, ao fim, inserir essa pessoa no lugar onde ela vive agora.
A questão da migração, da humanização, da perspectiva, e a questão da inserção na cidade ou no país: esses foram os três pontos mais importantes para a gente, de pauta. E aí cada um buscou um personagem que achasse que combinava com o espírito da cidade.
E o título do livro, Remolinos. Como vocês chegaram a esse nome?
Remolinos, não é só o título do livro. Ele é, também, o nome do nosso grupo de pesquisa. Na verdade, primeiro surgiu o livro, e depois decidimos nos constituir como um grupo de pesquisa com esse mesmo nome, dedicado aos temas do jornalismo de imigração e refúgio.
Um dos entrevistados para o livro é um músico chileno. E há um poema escrito, no quarto dele, que diz: Amo los remolinos, odeio las matemáticas. Esse poema é de uma autora chilena, a Violeta Parra. Eu fiz essa matéria, ela foi fechada, e ficou ali presente a ideia de redemoinhos. Porque “remolinos”, em espanhol, são “redemoinhos” em português.
Quando fomos organizar, e editar, o livro e todos os textos, procuramos qual seria o sentimento que permeia, que perpassa toda a obra. E é exatamente a ideia de que a vida do migrante é o eterno redemoinho. Isso está em todas as matérias.
Depois a gente pensou: a vida é o redemoinho. Mas acho que, na migração, esse redemoinho é mais especial, porque você está sozinho.
Está sozinho no sentido de que você pode até estar com alguém, com sua família, no exterior. Mas não se está no que conhece, na sua zona de conforto. Então, quando se “redemoinha” num lugar que conhece, você consegue se sentir mais seguro, mais amparado. Mas, se está num lugar que não conhece, nesse lugar de despertecimento, é tudo muito mais intenso.
E é exatamente essa intensidade dos remolinos que estamos tentando deixar claro no livro.
Chama a atenção, lendo os registros do livro, como, ali, o papel do repórter é como o de alguém que está vivendo, e conhecendo, coisas novas. Como alguém falando, “olha, estou imerso nisso aqui também, e a minha imersão ajuda a entender a circunstância do que é registrado”. Que é algo diferente da noção do jornalista neutro, distanciado daquilo que é reportado. Isso foi proposital?
Foi uma discussão que tivemos. Quando decidimos a pauta, algumas pessoas, alguns dos integrantes do grupo, perguntaram: posso me colocar também?
Porque sabemos que, nas regras do jornalismo, o jornalista sai da matéria, ele não fica ali. Mas a gente queria experimentar.
Então, as pessoas que quisessem se colocar, que se colocassem, e que isso fosse feito claramente. Há matérias nesse sentido (no livro). Uma é a da Liliana Tinoco Bäckert, em que ela perde o tio, e vai fazer uma matéria sobre o luto da migração.
E tem a matéria da Sandra Nodari, que sai do Brasil nessa fase dos conflitos, do bolsonarismo. E tem, também, uma outra matéria sobre uma mulher trans, que sai do Brasil também nessa época.
No final das contas, acho que tem uma coisa interessante. Todos nós estamos ali no livro como jornalistas, mas também estamos como migrantes.
Você falou da circunstância de serem jornalistas imigrantes, mas uma outra coisa me chamou a atenção. Vendo os perfis das autoras e autores, há ali uma certa trajetória acadêmica. E jornalistas, e acadêmicas e acadêmicos, são muito associados, até historicamente, por questões de ofício, a questões de deslocamento, a questões de migração. Como você acha que isso poderia ter afetado esses registros e esses olhares?
Acho que uma coisa que une muito esse grupo é a migração, sem dúvida. Porque todos do grupo são acadêmicos, e a gente começa a pensar exatamente com esse olhar de estudo, de compreensão, de teorização do que é a migração.
A nossa visão sobre migração é permeada por uma construção teórica e, consequentemente, o nosso olhar sobre uma cobertura de migração também é permeada por um olhar de jornalismo, de uma teoria do jornalismo, de um pensamento jornalístico.
Acho que isso dá ao livro uma densidade no sentido de que nós estamos testando um modelo, uma noção de jornalismo construída a partir de um tempo de pesquisa que a gente tem. E a nossa práxis se dá num olhar latino-americano sobre os latino-americanos no mundo. Nesse sentido, sobre as pessoas deslocadas.
O ofício do jornalismo, e do acadêmico, é muito ligado à migração. A gente sai, viaja para estudar, para fazer matéria, para pesquisar, e isso termina sendo determinante para essas duas atividades.
Mas, ao mesmo tempo, eu sempre me pergunto se nós, que somos jornalistas, que somos pesquisadores, também não temos, antes dessa escolha, já uma tendência, algum projetinho latente nas nossas cabeças de caminhar, de migrar.
Esse ponto é muito interessante. Vilém Flusser (filósofo nascido em Praga, em 1920, e radicado no Brasil dos anos 1940 até sua morte, em 1991) tem um livro muito interessante chamado Bodenlos – que em alemão significa “sem chão”. E ele faz ali um ensaio sobre uma filosofia da migração.
O Flusser diz o seguinte: quando você migra, quando a migração realmente te pega, principalmente a migração internacional, você perde o chão do lugar de onde veio. Você não pisa no chão do lugar onde está, porque não vai ser o cidadão dali. E você passa a ser uma terceira pessoa. E é essa terceira pessoa que vai ter uma visão privilegiada desses dois lugares.
E o Flusser chega a dizer – não exatamente dos jornalistas – que essa pessoa que tem essa terceira visão, privilegiada, vai poder contar muitas histórias nesses lugares, porque tem uma nova perspectiva para isso.
Eu queria conversar agora sobre questões de migração que têm a ver com as circunstâncias vividas na época do governo Bolsonaro. Foi um tempo em que se repetiam, e se intensificavam, ataques, e uma certa hostilidade, ao ofício jornalístico. Como você vê essa circunstância, e como o grupo envolvido no projeto via isso?
É claro que o ofício jornalístico sob um governo autoritário, como foi o período Bolsonaro, é sempre mais difícil, mais complicado. Tanto é que o Brasil tinha caído no ranking da liberdade de imprensa, e voltou a subir agora.
Agora, é claro que é também muito desafiador, no sentido de que você precisa continuar a produzir jornalismo. Você precisa continuar a produzir jornalismo independentemente do tipo de governo que se tenha.
E nosso compromisso é produzir jornalismo. E o que a gente vê como migrantes, e como jornalistas, é que isso tem uma consequência muito grande para a própria migração, para o próprio status de migrante.
As pessoas sempre migraram muito, a vida toda, ao longo da nossa história. Mas acho que hoje existe mais ódio com relação ao migrante. Aqui na Alemanha, por exemplo, a AfD, que é o partido Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, é algo que cresceu muito. Eu vi, acompanhei, nesses últimos sete anos que estou aqui, o crescimento desse partido.
Em Portugal, o partido Chega cresceu. Se você for para a Espanha, para a Itália, o Reino Unido. Agora estão discutindo, muitos ingleses estão indignados, porque o governo está hospedando refugiados em hotéis. Essas pessoas não têm onde morar. Tem uma crise imobiliária na Europa muito grande. E o incômodo dos ingleses é que os refugiados estão nos hotéis.
Então, sempre me pergunto, quando vejo alguém discutir se um país pode ou não receber refugiados, se a situação fosse ao contrário.
Existe um problema de empatia muito grande com relação ao refugiado hoje na Europa. Quando a gente pensa em construir uma narrativa de migrantes sobre imigrantes, sobre migração, é exatamente tentar quebrar um pouco essas fronteiras, porque elas são políticas, ideológicas, mas são, sobretudo, humanas.
Queria agora saber um pouquinho mais sobre os desdobramentos dessa pesquisa, desse trabalho de produção, de criação e de registros coletivos que vocês oferecem nesse livro. Há planos de continuidade? Quais são os próximos passos do grupo de pesquisa que vocês articularam?
Nós tivemos nesse livro o apoio institucional do CELACC, que vai lançar o livro. Quando o livro ficou pronto, abriu-se a possibilidade de nos associarmos como um grupo, uma linha de pesquisa, ao CELACC. A partir de junho, provavelmente, estaremos vinculados, não só como um apoio institucional para uma obra, mas como um grupo de pesquisa.
A nossa ideia é pesquisar formas de narrativa sobre migração. Acho que a mídia mainstream faz um trabalho importante. Ela fala da migração, mas muitas vezes isso vai até a fronteira, até o passaporte – ou, então vai para casos extremos. É o cara que migrou para Miami e fez sucesso porque montou uma empresa, ou a pessoa que morreu sem conseguir atravessar uma fronteira. Isso é importante, mas achamos que não é só isso.
Por outro lado, se você entra nas redes sociais, por exemplo, no YouTube, há muitos youtubers de migração que acompanhamos. Eles contam essa experiência do migrante, e da migração, no lugar de destino. Mas são narrativas, muitas vezes, subjetivas. É muito interessante, mas falta, muitas vezes, a técnica, o instrumento jornalístico.
Queremos pegar esses dois parâmetros, e dizer como podemos construir um jornalismo que conte essas histórias dentro das fronteiras. O migrante tem a possibilidade de ser essa terceira pessoa do fluxo. Ele interfere no lugar onde ele chega, muda esse lugar e, ao mesmo tempo, é mudado por ele.
Isso acontece, por exemplo, na matéria que escrevi para o livro sobre um músico chileno de cúmbia, e que vive em Berlim. É muito interessante ver os alemães dançando cúmbia e, ao mesmo tempo, ela ser cantada em alemão. Essa riqueza, é claro que, episodicamente, a grande mídia registra. Mas ela precisa ser mais presente, e precisamos de um formato, de uma forma de narrativa. Pensar, e também construir, essas narrativas.
Acho que essas são, hoje, as duas ambições do grupo: queremos pensar formas de narrativa que cubram o migrante, e a migração, no lugar de destino. E, ao mesmo tempo, fazer essa práxis também, porque todos nós, do grupo, somos jornalistas.
Bom, para encerrar, eu queria saber como as pessoas podem encontrar o livro.
O livro está disponível, nesse momento, em formato e-book, em português.
As pessoas podem baixá-lo tanto no site da editora Casa Flutuante ou no site do CELACC, gratuitamente, em PDF.
https://celacc.eca.usp.br/pt-br/noticias/book-gratuito-remolinos
O próximo passo é que o livro seja publicado em português, em formato impresso, sob demanda. E, em seguida, como somos um grupo de estudos latino-americanos, vamos traduzi-lo, e publicá-lo, em espanhol. E aí também vamos disponibilizá-lo, em espanhol, em formato e-book.
***
Tiago C. Soares é jornalista e doutor em História Econômica pela USP. É integrante do grupo de pesquisa Jornalismo, Direito e Liberdade (ECA-IEA/USP), e pesquisador bolsista do Programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico (Mídia Ciência), pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).